Recordações de Luiz Lavenère
 Praça D. Pedro II e Catedral em 1905 Foto de Luiz Lavenère e, 1905
Praça D. Pedro II e Catedral em 1905 Foto de Luiz Lavenère e, 1905
Luiz Lavenère
*Publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, volume XXX, 1973, com o título “Recordando”.
Quando eu era menino morava num sítio, na Cambona.
Nunca consegui saber por que deram esse nome à estrada que vai da Praça dos Martírios ao Mutange.
O sítio do meu pai ficava próximo da Igrejinha de N. Senhora do Bom Parto.
Subindo, o primeiro vizinho era João Saraiva de Moura: depois, um português, com família, que vivia da horta no fundo do sítio; mais adiante a chácara de “Dona Bibi”, Umbelina Viana de Aguiar, esposa de Antônio Teixeira de Aguiar.
Possuía ela uma “cadeirinha” dos tempos antigos, ou palanquim, no qual vinha à cidade conduzida por dois escravos. Foi o último palanquim existente aqui depois de modernizados os meios de transporte.
Descendo a estrada, o primeiro vizinho era uma sra, Dona Joaquina e sua filha solteirona, “Yayá da Cambona“. Eram muito religiosas, mantinham um grande oratório cheio de imagens e celebravam todas as festas e novenas da liturgia católica. A vizinhança comparecia sempre e eu, menino, não perdia essas reuniões, em que havia canto de hinos religiosos e queima de incenso.
Continuando a descer aquela parte da Cambona chamada “Cambona do Machado“, passava-se pela casa do “Velho Pinto“, um ricaço usurário que foi sogro do Dr. Thomas Espíndola.
Diziam que guardava dinheiro numas latinhas e lançava-as na cacimba, para não ser roubado.
Adiante, no lado esquerdo, ficava a “Casa da Baronesa“, prédio que pertenceu, por último, ao sr. Martírio Athayde.
A primitiva proprietária era a Baronesa da Atalaia.
Adiante, a “baixinha do Carrinho“. Era uma porção baixa da estrada, com um grande brejo à direita, onde um senhor “Carlinhos” plantava verduras. Um pouco depois havia um sítio dum senhor Januário, no outeiro, com subida para o planalto denominado “pipiripau”, corruptela de periperipau.
Chegamos, agora, ao sítio do “Coitinho” (Coutinho).
Havia ali um poço d’água potável, ao rés do chão, completamente desprotegido, do qual tiravam água os vendedores desse líquido. Ao lado do poço, lavandeiras lavavam roupas.
Estamos agora, na “Cambona do Ramos”.
Havia umas casas de residência e uns armazéns de compradores de açúcar e algodão.
Nas casas residenciais moravam as famílias Lopes Viana e Povina. Por ali morava também uma sra, “Dona Custódia“, muito conhecida por causa duns filhos terríveis, que faziam constantes distúrbios e maltratavam os cavalos dos matutos estacionados no local dos armazéns.
Atravessamos a Praça dos Martírios e entramos na Rua do Comércio, trecho denominado “Atalaia“, onde se juntavam também os cavalos dos matutos.
As casas de comércio mais notáveis eram a ferragem do Martins, o armazém do Teixeira Machado, a ferragem do Vicente Montenegro, o armazém do Escova, etc.
Seguindo a Rua do Comércio: os “Quatro Cantos”. Era o cruzamento dessa rua com a “Rua do Açougue“, hoje Avenida Moreira Lima. Ali se reuniam negros africanos e brasileiros, homens de frete, a espera de chamados.
Antes de chegar ao Palácio do Governo, o Palácio Velho, injustificavelmente demolido, deve ser mencionada a mais antiga loja de fazendas da cidade, a loja do Fontan, na rua hoje “Dois de Dezembro“.
Ao lado do Palácio funcionava, no andar térreo, a “Casa da Ordem“, porque o Presidente da Província era também o “Comandante das Armas“. No primeiro andar, a Biblioteca Pública. O bibliotecário era um velho senhor que não falava, devido a um derrame cerebral, mas tinha um intérprete no amanuense, um sr. Simões. No segundo andar funcionava a Tesouraria de Fazenda, da qual meu pai era escriturário.
Esse era o caminho que fazia ele diariamente porque não gostava de viajar em bondes…
Quanta coisa está hoje mudada!
II
Quando entrei na minha primeira escola primária já sabia ler algumas palavras em português e em francês, ensinado por minha mãe. A primeira palavra francesa que li foi tête, porque nessa língua começava a leitura pelos nomes das partes do corpo humano.
Minha primeira escola era situada na rua da Alegria, casa aos fundos da residência da família Vicente Bezerra Montenegro e dirigida por duas professoras. De uma não me lembro do nome; a outra, mais afeiçoada a mim, chamava-se Senhorinha Freire, ou Ramos Freire, pois tinha algum parentesco com um senhor Torquato Ramos, e o pai chamava-se Alípio Freire. Moravam no mesmo trecho da rua da Alegria em que eu morava. Meu pai havia vendido o sítio da Cambona, por 500$000, desgostoso do corte feito pela estrada de ferro.
Uma das minhas colegas era filha de João da Cruz Mattos Serva. Mais adiantada do que as outras, tomava conta de uma decúria, ensinando a ler a cartilha de Abílio César Borges.
Uma das lições constava destas palavras:
Paulo é babão
Rita sabe dançar
O gato engoliu o rato.
Quando ela pronunciava o nome — rato — fazia uma careta e cuspia, em sinal de repugnância pelo animal.
Outra colega que me agradava muito era Laudicéa Jucá. Passados muitos anos encontrei-me com ela, velhinha, na residência da família Jucá. Morreu, faz pouco tempo.
O pai das minhas professoras, Sr. Alípio, enlouqueceu, tentou incendiar a casa da escola que se acabou, por isso, talvez.
Passei para a aula primária do Colégio S. José, de um Sr. Soares, situado na casa contígua ao sobrado da esquina da rua do Macena com a rua Augusta.
Nessa casa instalou-se, depois, o quartel da Polícia; mais tarde o Lyceu de Artes e Offícios e, quando esse passou para um prédio na Praça da Catedral, foi residência da família Manuel Pinto do Amaral Lisboa.
Na ausência do Sr. Soares dirigia o Colégio um ex-combatente da guerra do Paraguai, João dos Santos Lima Pontebaixa. Diziam-me que por ter sofrido um ferimento perdera o movimento de uma pálpebra e recebera o apelido de “ponta baixa”.
Inteligente, que era, tomou o nome transformado em “Ponta Baixa” ou Pontebaixa.
Era poeta e publicou um livrinho de versos que terminava com um soneto “Meu Retrato“, concluindo assim:
Eis aqui um retrato de tarracha.
João dos Santos Lima Pontebaixa.
Foram meus professores de primeiras letras, nesse Colégio, Benedito José dos Santos e Manuel Eustáquio da Silva. O primeiro serviu, anos depois, como agente do Correio de Jaraguá.
Não sei por que motivo transferiram-me para o Colégio Bom Jesus, de Francisco Domingues da Silva, então na casa da esquina da rua da Boa Vista com o Beco de São José.
O professor Manuel Eustáquio passou também para esse Colégio. Fui colega de Sebastião Passos, o poeta, e de Adolfo Aschoff, filho do relojoeiro Alberto Aschoff, estabelecido na rua da Boa Vista, numa casa próxima do local em que está hoje o “Jornal de Alagoas“. Essa Relojoaria esteve antes na Rua do Comércio n° 60.
Adolfo Aschoff tem um retrato no Liceu Estadual e instituiu um prêmio de um relógio que, se não me falha a memória, foi concedido só uma vez.
Isso há muitos anos.
Por que se esqueceram desse prêmio?
III
Concluído o curso primário passei logo à aula de Latim. Era o costume da época. Meu primeiro professor, ainda no Colégio Bom Jesus, foi o padre Pedro Lins de Vasconcelos.
Os métodos de ensino daquele tempo bem diferentes dos atuais. Exercitava-se muito mais a memória do que as outras faculdades, o que era muito lógico, pois aquela é a primeira que se desenvolve no ser humano.
Em todas as aulas de grande número de alunos, eram eles divididos em decúrias e entregues a decuriões, estudantes mais adiantados, enquanto o professor cuidava dos outros.
Passei o primeiro ano estudando a Gramática do padre Antonio Pereira. Não sabendo perfeitamente bem declinação de nomes, conjugação de verbos etc. não entraria na tradução dos livros.
Aos sábados formava a decúria diante do decurião para o que chamávamos — argumento.
Por exemplo:
– Mare, e maris; turgidus, turgida, turgidum; nominativo do plural? perguntava o decurião.
O estudante deveria responder prontamente, se não, mandava o decurião: “Adiante! Adiante!” até que alguém respondesse. Quem respondia certo dava um “bolo” de palmatória nos que levavam o quinau.
As perguntas no “argumento” de tabuada eram mais complicadas, como: três vezes sete noves fora vezes cinco? E nos respondíamos em três ou quatro segundos; se não, os outros já teriam tempo de fazer calmamente o cálculo, e dariam “bolos“.
No segundo ano, com a Gramática na “ponta da língua”, passei a traduzir a “História Sacra” de Lhomond.
Era um latim facílimo, e como traduzi rapidamente, passou-me o padre para as fábulas de Phedro!
Um erro; pois o “Epitome” da História Sacra de Lhomond fora escrito para ser traduzido até ao fim, apresentando-se as dificuldades progressivamente.
Contudo, as minhas lições foram correndo bem até à fábula “Cannis Parturiens“.
Comecei a traduzir: Cannis, o cão…
— “O cão ou a cadela” é o significado de cannis, interrompeu o padre.
— Cannis, o cão ou cadela… corrigi.
A cadela, a cadela; aqui deve estar no feminino, disse o padre, meio zangado. Quando se zangava, tinha o costume de proferir estas palavras: É que, judeu!, mas dessa vez ainda não as pronunciou.
Cannis, a cadela; continuei. Parturiens, que ia ter cachorrinhos… Eu não queria dizer “parir” porque era “nome feio“. Menino do meu tempo não dizia “parir”, nem falava em coisas relativas a partos, senão por circunlóquios.
Aqui, o padre falou alto: Parir, menino! “Parir, parir”! Está com vergonha? E, passou adiante a tradução.
Mal acabara de traduzir Phedro passei para a Eneida de Virgílio! Depois, ainda não vencendo as dificuldades do poeta, fui traduzir as Orações de Cícero…
Resultado: abandonei o estudo do Latim durante três anos!
Recomecei no Lyceu Alagoano, com o padre Procópio.
Na aula de Latim, do Colégio Bom Jesus, tive dois colegas dos quais guardei lembrança: Firmino Vasconcelos e Pedro Aureliano. Esse foi o pai dos Góes Monteiro. Eram ambos muito indisciplinados.
Sentavam-se no banco que ficava atrás do meu. Um dia, não sei que fazia Pedro Aureliano que o padre levantou-se da cadeira, empunhando uma régua, com as duas mãos, bradando “É que, judeu! É que, judeu!” muito irritado, e bateu com tal força que a quebrou.
Não procurei saber o que deu motivo a isso nem o que aconteceu depois.
No Lyceu, coube-me a vez de ser decurião. Não durou muito tempo minha permanência nessa aula: quis o padre que eu traduzisse Horácio, muito mais difícil do que Virgílio e eu interrompi outra vez o estudo do Latim.
Terminei com o professor Domingo Bento da Moeda e Silva, para fazer o “exame” final do curso de Preparatórios, em 1884.
Contudo isso o que me ensinaram e eu aprendi conservo bem na memória.
IV
No meu tempo de colegial conheci escolas e professores famosos. Em primeiro lugar ponho o Colégio Bom Jesus que, mesmo comparado com os atuais estabelecimentos de instrução, era superior até aos melhores do Recife. Na aula primária ensinavam, de verdade e com interesse pelo aproveitamento do aluno: caligrafia, leitura, gramática, aritmética, geografia, história universal, por meio de preleções feitas por Francisco Domingues, ilustradas com quadros apropriados.
No curso secundário havia aulas de desenho, pintura, música, arquitetura e… ginástica, uma novidade repelida por muitos pais dos alunos.
A ginástica que se ensinava era do gênero da que se praticava nos circos.
Eu fui um dos alunos proibidos de fazer ginástica; era muito “fraquinho“, diziam meus pais. Contudo, o diretor fez ouvido surdo e deixou que eu subisse em cordas lisas, fizesse “bandeira” nas argolas e desse algumas voltas na “barra fixa”. No fim do ano ofereceu o Colégio aos pais dos alunos um espetáculo de acrobacia, ao qual se salientou o aluno Leonel de Alencar Guimarães.
Uma escola primária, do sexo masculino, muito falada, era a do professor Xéxéo, Mateus de Araújo Caldas Xéxéo.
Puxava muito pelos alunos, diziam, e não poupava a palmatória; mas, menino que passava pela escola do professor Xéxéo saía sabendo as primeiras letras mais do que qualquer outro.
Outra escola muito estimada, para meninas, era a “das Mouras“.
Eram “as Mouras” uma família composta de quatro moças: Sinhá Moura e Iaiá Moura, as professoras; Augusta e Antonica, mais jovens, que não trabalhavam na escola. O pai, Alexandrino Dias de Moura, já havia falecido.
A mais idosa, Sinhá Moura, era muito instruída e possuía uma biblioteca, naturalmente herdada do pai, com uma porção de livros franceses.
Emprestou-me alguns como “L. Echo des Feuilletons”, uma coleção de romances.
Alguns anos depois, comprei essa obra para ler de novo e ofertei-a ao Instituto Histórico.
Augusta Moura cantava modinhas ao piano, como se fazia nas festas familiares. Eu gostava muito de a ouvir cantando:
Linda entre mil
Mulher sem par
Paixão febril
Me fez brotar…
É que eu tinha um “beguim” por Antonica e aquela canção falaria por mim!
Uma professora muito notável, daquele tempo, foi “Dona Santa Bulhões”, Cantidiana Cândida Clarismunda de Bulhões, salvo erro. Sabia e ensinava latim, língua que nenhuma mulher da época tinha coragem de estudar.
Ouvia dizer que muitos rapazes fizeram boa figura na Faculdade de Direito do Recife devido as suas lições.
Todas as escolas primárias observavam este horário: de 9 às 14 horas. As do sexo feminino tinham mais uma hora de 16 a 17, para ensino de costura.
As Repartições públicas funcionavam também de 9 às 14 horas.
Em geral, nas casas de família, almoçava-se às 8 horas, café com pão ou angu de milho, cuscuz ou tapioca; jantava-se às 15 horas e ceava-se às 18.
Dormíamos muito cedo; às 21 horas a cidade estava em silêncio.
As reuniões dançantes, os bailes, começavam sempre às 19 horas e terminavam, no máximo, meia noite.
Guardo saudades de uma professora, muito jovem, muito alegre, muito bonita, que simpatizava muito comigo. Tinha uma escola defronte ao prédio em que se acha a tipografia do Diário Oficial.
Morreu poucos meses depois de se haver instalado naquela casa. Tive muita pena e todas as vezes que ia ao Cemitério parava diante do túmulo num “minuto de silêncio“. Tempos depois, não encontrei mais a lápide que assinalava sua definitiva morada! Pedi informações ao administrador: não sabia nada!
Chamava-se Ana Filomena de Souza.
V
Meu professor de Geometria, no Lyceu Alagoano, foi o farmacêutico Antônio José Duarte. Era um homem muito popular e muito estimado. Alto, magro, eloquente, quando lecionava, falava claro e com voz forte, quase declamando. De giz em punho, ao lado do quadro negro, demonstrando um teorema de Geometria, usava sempre estas expressões “Não é fato?“; “É fato ou não é?”.
Por exemplo: “Temos aqui um triângulo. Tracemos, pelo ponto C, uma paralela à base; prolonguemos dois lados; teremos três ângulos rasos; “não é fato?”.
Depois de demonstrar que os três ângulos rasos eram iguais aos ângulos internos do triângulo, concluía: ”Logo, os ângulos internos de um triângulo valem dois ângulos retos; “é fato ou não é?”
Em seguida, apagava tudo e chamava: “Sr. Fulano, vá a pedra“. Não obstante de madeira, o quadro negro foi “pedra” por muitos anos.
Era raríssimo o caso de um estudante não repetir corretamente a lição do professor, tal a clareza com que se exprimia.
Aposentado, foi substituído por um, em tudo, diametralmente oposto: falava baixo, não era alto, e dava as lições com um livro aberto sobre a mesa, a “Geometria de Ottoni”. Não ia ao quadro negro; mandava sempre um aluno fazer a figura geométrica, com as mesmas letras na mesma posição em que se encontravam no livro. Se não… a demonstração não daria certo!
Professor que também falava muito baixo, mas professor de verdade era Adriano Jorge, que foi um dos meus professores de Inglês.
Pontualíssimo, mesmo em dia de aguaceiro, à hora exata estava ele na sua aula. Os “temas” ou “exercícios”, chamam-se hoje “deveres“, levava para casa e no dia seguinte restituía um por um, explicando as correções feitas.
Nesse tempo, havia hora para começar a aula, mas não para acabar. Eram todas diárias e algumas duravam duas horas, como a de Latim. Não se perdia tempo com “provas parciais” nem férias de S. João etc. Também ninguém estudava mais de três matérias em cada ano.
O meu professor de História foi o Dr. Thomas Espíndola. Era mau professor. Sentava-se na sua cadeira, contava a “história” da lição, falando sem entusiasmo, pausadamente, sem olhar para os alunos, e com a mesmo calma no andar, saía da sala. Eu, por exemplo, não estudei nada, não aprendi nada de História Universal; mas fui aprovado PLENAMENTE no exame final!
Como? Caiu-me, na prova escrita, o primeiro ponto, da História do Brasil, matéria que me ensinaram na aula primária!
Na prova oral tirei da urna o ponto que tratava da Revolução Francesa, história que aprendi em casa, com as conversas e figurinhas que nos vinham da França.
Professor indisciplinado, irritadiço, era o de Francês, Felinto Elisio da Costa Cotrim. A hora da sua aula era às 12; mas ele chegava, às vezes, depois de 2 horas da tarde! Nenhum estudante teria coragem de reclamar nem de faltar à aula. Quem muito se zangava com isso era o porteiro, um velhinho de nome Irenio Alves Peixoto. Zangava-se, porém, muito mais com os estudantes que lhe falavam na história do queijo…
Diziam que ele comprara, para um dia de Natal, um queijo flamengo, excelente “queijo do reino”, importado diretamente da Holanda. No dia de Natal, o velho Irenio não o quis comer; guardou-o para o “dia de ano”. Ainda nesse dia, não comeu do queijo, esperou pelo “dia de Reis”. E assim foi guardando e esperando até o Natal seguinte. Mas… o queijo ficara seco e duro… Foi devolvê-lo ao negociante…
Essa história incomodava-o mais do que as maçadas do professor Felinto.
Contudo isso, o professor Felinto era bom professor, grande sabedor das línguas francesa e inglesa, e “puxava” pelos alunos, ensinando de verdade.
Era hemiplégico e quando se irritava costumava bater com a mão direita na esquerda ancilosada.
VI
Ensinava Retórica, no Lyceu Alagoano, o Dr. Januário Pereira de Carvalho. Constava a matéria de Eloquência e Poética; mas, o professor não fazia discursos nem fazia versos! Não importava isso para poder ensinar o que não sabia fazer. O professor de Inglês também não falava inglês.
Quando frequentava aquela aula, chamou-me o professor e amigo Francisco Domingues e disse-me: “Tenho somente um aluno de Retórica. Não posso pagar um professor para um aluno só. Quer tomá-lo para você?
Dar-lhe-ei a mensalidade que ele paga.”

Francisco Domingues da Silva, professor, jornalista, abolicionista, irmão de Misael. O Malho de 6 de março de 1909
Aceitei a tarefa. A mensalidade era de 5$000, cinco mil réis, quanto se pagava, por matéria, no curso secundário. No primário era de 2$100 por aluno.
Foi assim que iniciei minha carreira de professor. Mais tarde tomei conta de aula de Inglês.
Como de costume, nos Colégios, fazia-se aos sábados uma arguição da matéria ensinada durante a semana. Aquele que demonstrasse falta de aproveitamento, voltaria às primeiras lições.
Tive um discípulo de Inglês que não passava da primeira lição de Gramática. Dois meses depois, falei ao Diretor: “Fulano não se adianta! Não sai da primeira lição!“.
— “Deixe ir assim mesmo. É aluno interno, irá fazer exame no Rio Grande do Norte.”
O pai, era rico, senhor de engenho, podia fazer a despesa. E assim foi. No fim do ano partiu para Natal, onde os “exames de preparatórios” eram escandalosamente vendidos e comprados. Esse estudante foi fazer apenas o exame de Inglês; mas voltou com todos os “preparatórios”… Com essa bagagem matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife e conseguiu o diploma de Bacharel. Verdade é que nunca se utilizou dele; viveu muito bem plantando cana e fabricando açúcar bruto.
O Dr. Januário, diziam, era muito amigo do dinheiro e levava a economia por um caminho muito áspero.
Meteu-se na Política, foi eleito deputado geral e fez o sacrifício de oferecer uns copos de cerveja aos amigos que lhe foram dar parabéns.
Imaginem o choque sofrido: Desembarcou no Rio de Janeiro no dia 16 de novembro de 1889!
Voltou acabrunhado. Perdera o trabalho, perdera dinheiro, o que era o pior, pois, por isso, perdeu também o juízo.
Passei também pela aula de Filosofia, a cargo de Dr. João Gomes Ribeiro. Esse ensino corria “à vol d’oiseau“, hoje diríamos “a jato“. Levava-se grande parte do ano palestrando sobre Psicologia misturada com política republicana e abolicionismo. De Lógica tocava-se levemente em silogismos e nos “ídolos” de Bacon. De Moral e Teodicéa nem se falava. No fim do ano, o professor era justo, não metia na urna pontos dessas matérias.
Quase fui reprovado nos exames. Caiu-me na prova escrita “Erros humanos, causas e remédios“. Como já tinha minhas inclinações para o jornalismo, enchi duas páginas do papel, escrevendo o que me vinha a cabeça.
Quando os outros examinadores quiseram pôr nota má ou péssima, protestou o dr. João Gomes Ribeiro: “Este menino merece nota ótima. E um verdadeiro “filósofo“; o que escreveu está certo”. Os outros concordaram e fui aprovado “com distinção“.
Isso prova que exames por “pontos” ou por “quesitos” não provam sabedoria, mas, apenas, a boa sorte do examinando…
Um caso comigo: Eu sabia muito bem ler, traduzir, escrever e até um pouco de falar francês, mas fui aprovado “simplesmente”, porque, fazendo a versão dum texto português para o francês que começava por “Vamos“, não percebi que não era imperativo e escrevi “Allons“.
O professor Felinto não perdoava erro dessa ordem e deu nota “sofrível“.
VII
De todos os meus professores o mais interessante foi o inglês Henry James Pitt. Quando tomei as primeiras lições morava ainda na Cambona, e ele, no Poço.
Usava o método de Ollendorff. A primeira lição começou às 4 horas da tarde… Não digo “às 16 horas” porque naquele tempo não havia “fusos horários”. Começou às 4 horas da tarde e terminou às 11 da noite! Assim mesmo foi preciso mandar parar o bonde de Bebedouro, agarrar o professor pelo braço e levá-lo advertindo: “Professor, este é o último bonde!”
Os bondes trafegavam de Jaraguá a Bebedouro de hora em hora. Partiam ambos ao mesmo tempo, do extremo da linha e cruzavam-se na Praça dos Martírios. Um “agulheiro” manobrava as agulhas para dar o desvio. Chamava-se Cotias. O preço das passagens era de duzentos réis para gente grande e cem réis para meninos. Também transitava pela linha uma locomotiva puxando três ou quatro carros, em dias de festa ou em enterros, com um carro fúnebre.
As 11 horas da noite recolhia-se o último bonde.
Não eram as lições de Mister Pitt que duravam tanto, mas, as histórias mentirosas que contava. Soubemos, depois, que saíra ele uma noite, em busca de uma “assistente“, na Levada, e voltara encontrando o menino mamando. Não era casado legitimamente, mas, “na Igreja Verde“, isto é, segundo às leis da Natureza.
À terceira lição não suportávamos a caceteação e combinamos reunir dois ou mais discípulos na residência de um deles. Foi escolhida, para começar, a do meu colega do Lyceu, Vicente Venancio dos Santos, em Jaraguá. Vicente era filho do negociante Candido Venancio dos Santos. A primeira lição começou às 8 horas da manhã e terminou ao pôr do Sol. O sr. Candido Venancio estava só e gostou das prosas de Mister Pict.
Notamos que quando ele começava a mentir tremiam as asas do nariz. Ao vermos esse sinal dizia um ao outro: “Mister Pitt vai mentir!“.
Guardei duas de suas extraordinárias histórias:
1. “Dois grandes atiradores ingleses bateram-se em duelo, dizia ele. Cada um apontou o cano da pistola do outro. As balas partiram ao mesmo tempo, encontraram-se no ar e caíram achatadas. Os combatentes reconciliaram-se.
2. Esta aconteceu a ele próprio. Viajava para Porto Calvo e teve de atravessar um riacho. Na margem oposta havia duas estacas fincadas. Esporeou o cavalo, saltou por entre as estacas. A sela ficou presa nas pontas, o cavalo partiu deixando-o escanchado, no ar.
Ninguém resistiu às lições de Mister Pitt e deixei de aprender inglês com ele.
Cândido Venâncio tinha dois filhos e duas filhas: um era padre; outro, estudante, meu colega. A filha mais idosa chamava-se Úrsula, na intimidade Lulu. Depois da morte da mãe, num dia 17 de dezembro, veio morar numa casa na rua da Boa Vista, próxima à minha residência. Ia começando um namorozinho quando me preveniram: “Há casos de morfeia naquela família!”.
Realmente, dois irmãos haviam sido vítimas desse mal.
Vicente foi, mais tarde, atacado e morreu num estado deplorável. Lulu, porém, casou-se e não morreu morfética.
Naquela época o mal de Hansen era considerado contagioso, hereditário e incurável.
VIII
Quando ia pedir ao sr. Vicente Montenegro chave de alguma casa para nova residência da família, dizia-me ele “seu pai não esquenta casa!”, mas o culpado das repetidas mudanças era eu que, nesse particular, tinha plena autoridade.
Estamos agora morando numa casa defronte do sobradinho da família do Dr. Eutíquio de Carvalho Gama, no trecho ou “quarteirão” situado entre a rua do Apolo e a Augusta. Ao lado direito moravam os pais do Dr. Manuel Lopes Ferreira Pinto; mais adiante, a família de Miguel Cahet. Ao outro lado, Henrique de Azevedo Melo, porteiro da Secretaria de Polícia e pai da pianista e professora Amélia de Azevedo. Mais adiante a família de um negociante, em Jaraguá, composta de marido, mulher, três filhos, duas mocinhas e um menino, e uma jovem, órfã, agregada. Não cito o nome, por causa desta história triste.
A família aparentava abastança e ocupava a maior casa do quarteirão, aquela que serve hoje a Guarda Civil.
A que nos ocupávamos era, também, uma das melhores e custava o aluguel de 20$000 mensais, alto preço, na época.
Por motivo que não chegou ao meu conhecimento a esposa do negociante expulsou de casa a pobre órfã.
Uma família vizinha compadeceu-se dela e recolheu-a.
Foi um ato reprovado por toda a vizinhança, pois a jovem era muito estimada.
Poucos meses depois o negociante morreu subitamente. Liquidada sua casa comercial nada ficou para a família, senão completa pobreza.
A viúva substituiu o marido por um senhor cujo nome não cheguei a saber, e as filhas prostituíram-se, indo morar no Recife. O irmão servia-lhes de proxeneta.
Defronte morava a família de Manuel do Amaral Lisboa, português e dono de uma lojinha aos fundos, na rua do Comercio. Contigua à sua casa havia um armazém vazio, no qual funcionava uma “sala de dança“, dirigida pelo dito Manuel Pinto, apelidado de “Marmelada“.
Naquela época raro era o homem que não tinha apelido. Os mais conhecidos eram: Tamanduá de Colete, Barriga Verde, Bandolim de Fumaça, Pantispantim, Cabeça de Comarca, Peixe Frito, Pestana Branca, etc..
Um Presidente da Província teve o de Bolachinha, e até um padre apelidado de Canoa Doida, porque andava gingando.
A sala de dança funcionava aos sábados, para instrução, uma vez por mês, para a prática.
Manuel Pinto possuía um par de pés que davam razão a esta quadrinha popular:
Marinheiro pé de chumbo,
Calcanhar de frigideira,
Quem te deu esta ousadia
De casar com brasileira?
Assim mesmo, com pés, de lancha, dançava e ensinava a dançar quadrilhas, lanceiros, valsas, polcas, scottisch e varsoviana. Eu só aprendi quadrilha, lanceiros e valsoviana que ele chamava “valsa viana“. A “sala de dança” do Manuel Pinto era uma sociedade composta de rapazes que pagavam $500 (quinhentos réis) mensais e podiam levar as moças que quisessem. Era muito frequentada e o único lugar, como em todas as reuniões dançantes, em que rapazes e moças poderiam conversar.
Manuel Pinto tinha duas filhas, uma muito bonita, muito requisitada, quase a mais bonita da cidade.
A mais bonita, realmente, era Miquita Cahet, que morava pertinho. Eu, porém, tive cabeça inchada por Sinhazinha Pinto, que não fazia caso de mim. Quem andou a morrer de amores por Miquita Cahet foi Raimundo Pontes de Miranda, mas nunca teve coragem de se aproximar dela!
E era preciso mesmo ter coragem para trocar umas palavrinhas de amor.
Por isso amor era, então, uma coisa sublime, e no dizer de um escritor francês: “no coração da mulher, a garantia mais forte de sua virtude“.
IX
Aquele armazém vazio que foi sala da dança, serviu também para bailes, pastoris de fim de ano, e, muito mais tarde, para a primeira pregação do Evangelho por um pastor batista, o ex-padre Teixeira. Naquele tempo não havia disputa entre cordão azul e cordão vermelho, mas entre cravo e rosa. Nos intervalos das jornadas, saía uma pastorinha apregoando uma rosa ou um cravo.
Começava o preço por cem réis e ia subindo até cinco mil réis, no máximo. Eu fui sempre partidário da rosa e cheguei a comprar uma por quinhentos réis.
A casa da família do Ferreira Pinto era uma casa de música. O Manuel Lopes tocava clarinete e, depois, violino; as irmãs tocavam piano.
Como meu pai e minha mãe eram surdos não apreciavam música. Uma irmã do meu pai que morava conosco cantava modinhas e fez meu pai comprar um piano e contratar a professora D. Amélia para ensinar minha irmã. De mim não cuidaram e somente com muita insistência minha deixaram que o professor Pedro Diniz Maceió me desse lições de música, recomendando logo que não me ensinasse a solfejar porque eu tinha voz muito fraca e poderia ficar tuberculoso! Concordou com isso o professor e fez-me aprender a tocar flauta.
Um erro imperdoável, mas, com esforço próprio, aprendi a “ler música” batendo as teclas do piano.

Luiz Lavenère rege em O Herdeiro de Naban em 1950 no Teatro Deodoro, quando ainda tinha o Fosso da Orquestra
Comecei a frequentar a casa do Manoel Lopes, mas ele era mais adiantado do que eu e não me prestou atenção. Recorri à casa do Manoel Pinto, mais interessante para mim porque havia moças que tocavam piano e me acolhiam com agrado. Fui tocando umas valsinhas, algumas polcas e um tanguinho da moda que se cantava assim:
Amor tem fogo,
Tem fogo amor,
Ardente, intenso,
Devorador…
Tenho na memória toda a melodia, mas perdi a lembrança das palavras do estribilho.
Frequentei também a casa da professora da minha irmã, para ouvi-la cantar e tocar piano.
Não cantava modinhas, mas canções francesas e italianas. Lembro.me bem das minhas preferidas “Alla Stella Confidente“, “Penso” e desta, acima de todas:
Ei mi diceva
Che avria sfidato,
Por ottenermi,
Tutt’il creato.
Tuta de fiori
La vita ornarmi,
Non aver cuore
Che per amarmi.
Não tenho o original impresso; estou repetindo de memória.
Foi das mãos de D. Amélia que tive para ler o primeiro livro de Allan Kardec. A família de Henrique de Azevedo Melo era adepta do Espiritismo. Eu achei muito engraçadas as histórias de Kardec. Já não dava crédito à existência de “almas do outro mundo“, nem mesmo nesse “outro mundo“. Assim a doutrina de Kardec não me impressionou nem naquele tempo nem nunca.
Amélia gostava também de ler outros livros e disse-me, uma vez, elogiando a IRACEMA de José de Alencar, que, lendo-a, parecia lhe estar revolvendo flores misturadas com mel! Para mim seria prazer mui pouco agradável; mas “non omnibus unum est quod placet“, a mesma coisa não agrada a toda gente, poderia ser que ela gostasse mesmo de ter as mãos meladas e grudadas de pétalas de flores açucaradas…
X
Quando entrei na Repartição Geral dos Telégrafos, em 1890, fiquei muito admirado de se fazerem amizades e inimizades entre colegas distantes, sem se conhecerem pessoalmente. E, um desaforo muito grande ser feito apenas por um sinal de admiração: duas linhas dois pontos, duas linhas.
Era até motivo justo de queixa e advertência! Depois, tive as mesmas impressões dos outros.
Havia também namoros e casamentos… pelo fio telegráfico. Um colega daqui, Aristides Casais, namorou e casou-se com uma telegrafista de Penedo, vendo-a somente no dia do casamento. Eu também comecei, por brincadeira, um namoro com a telegrafista de Maragogipe, na Bahia, e terminei com o casamento. Mas, tive o cuidado de antes ver de perto com quem brincava.
Naquele tempo o candidato a telegrafista trabalhava durante um ano, como “praticante“, sem remuneração alguma. Eu tive sorte de trabalhar apenas dois meses, porque meu “padrinho” aproveitou-se da balbúrdia dos primeiros dias da República e obteve, no dia 10 de Janeiro de 1890, a minha nomeação para o primeiro posto, com os vencimentos de 80$000 mensais. Havia quatro classes de telegrafistas, mencionando de baixo para cima: adjunto, telegrafista de segunda classe, telegrafista de primeira classe e telegrafista chefe. Os dessa classe só tinham exercício na Estação Central e ganhavam 500$000 mensais.
A Estação de Maceió era de segunda classe e dirigida por telegrafista de igual classe. Naquela época havia respeito às categorias; um telegrafista de primeira classe não seria “encarregado” de Estação de classe inferior.
O serviço era feito copiando, a lápis, a fita escrita com os sinais Morse. Como eu não estava habituado a escrever com lápis e tinha letra muito ruim, o primeiro telegrama que recebi foi devolvido porque o destinatário não o pôde ler!
O tráfego fazia-se, nos meus últimos anos de serviço, por três linhas, estando em construção mais uma.

Administração dos Correios em Alagoas, na Praça D. Pedro II, atual Delegacia do Ministério da Fazenda
Recife era a estação coletora de todo o Norte, e de Alagoas, dos telegramas destinados ao Rio de Janeiro e Sul. Recife comunicava-se diretamente, pela linha geral, com a Estação Central, por intermédio da Estação translatora em Pojuca, Bahia. É difícil explicar aqui em que consiste “translação” no serviço telegráfico. Um dos requisitos exigidos do telegrafista para trabalhar numa estação translatora era saber “ler de ouvido” e de “visão”. Quando o tempo está mal os “estiletes translatores” não fazem ruído para se poder “ler de ouvido”; é preciso “ver” o movimento e traduzir os sinais.
Eu lia, e ainda leio bem, “de ouvido“, e trabalhei por algum tempo em Pojuca.
As outras linhas eram destinadas às Capitais e às estações intermediárias, com horários fixos.
Maceió era uma Estação cobiçada pelos “encarregados” por um motivo pouco louvável.
Todos os telegramas destinados a Jaraguá, sede do grande comércio, naquela época, traziam “condução paga” de quatrocentos réis, equivalente a passagem de bonde, ida e volta. O “encarregado”, porém ia juntando telegramas para mandar aos cinco, aos seis, pagando apenas UMA passagem de bonde…
No fim do mês esse artifício dava uma renda de cento e tantos mil réis.
Depois de instalada a Estação de Jaraguá acabou-se a mamata.
Termino aqui estas “recordações” com pouco ânimo de continuar a me distrair, escrevendo para jornal.
Colaboro sem a mínima compensação, até o jornal compro ou assino, e tenho o desgosto de ver o meu pobre trabalho maltratado, como saiu a “Linguagem Forense”, cheio de erros que não perpetrei.
O que me consola é que não estou sozinho: num dia destes O SEMEADOR repetiu inteirinha uma MOEDA CORRENTE, por haver entrado em circulação totalmente “desvalorizada“.
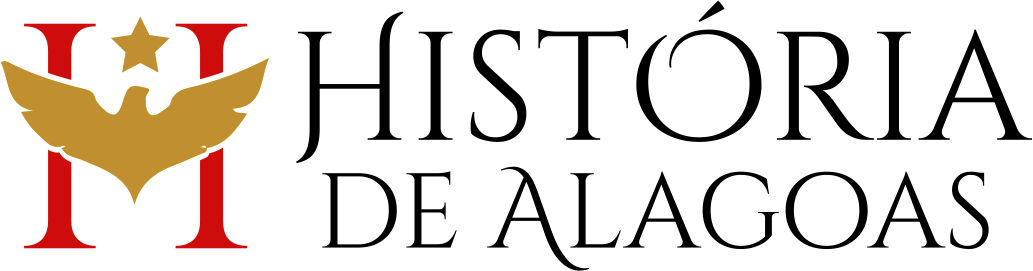








Obrigada por toda a sua contribuição jornalística, cultural e académica, Edberto.
Gostei muito do texto.