Os antigos Carnavais de Maceió
 Carnaval de Maceió na Rua do Comércio em 1953
Carnaval de Maceió na Rua do Comércio em 1953
Ednor Bittencourt*
CARNAVAL I
NOTÁVEL ERA, também, o nosso carnaval nas décadas de 30. 40 e 50, embora já não contássemos com o chique Zé Pereira, organizado pela secular Fênix Alagoana e que perdurou até os anos de 20.
Segundo meus ancestrais, na época de Manoel Bittencourt Vasconcelos, sócio fundador e benemérito, o aristocrático clube iniciava os festejos momescos no sábado gordo, com um luxuoso e concorrido Zé Pereira. Disseram-me, ainda, que a alta sociedade dele tomava parte, saindo o desfile da antiga sede, na rua Barão de Jaraguá, em carros alegóricos com figuras mitológicas (Apolo. Vénus. Netuno. Minerva, Baco, Morfeu, etc.), ou representando as Estações do Ano, os Continentes, o Saber, a Vitória, a Paz, o Amor, a Glória, etc.
Os primos, poeta Cipriano Jucá e os conceituados despachantes estaduais Renato e Nelson Jucá, com sua mana Sarita, eram elementos indispensáveis no grande e aplaudido acontecimento social.
O rico Zé Pereira feniano foi substituído, na década de 20, pelo do Major Bonifácio. Destituído do luxo do seu antecessor, era preparado em Bebedouro, e desapareceu juntamente com a tradicional Festa de Natal e a gostosa e animada dança do Coco das Alagoas, em 1934, quando o “velho guerreiro” já não apresentava condições físicas de irradiar alegria.
Com ou sem Zé Pereira, o carnaval de Maceió até a década de 50 era pra valer e realizado num ambiente sadio, onde todo mundo se entendia, sem brigas nem assaltos, nos salões e nas ruas, e com muito romantismo.
Ele nasceu na mesma época da fundação da cidade, quando lançaram o entrudo, brinquedo de rua, com a saída de mascarados e combates de “laranjinhas”, brincadeira combatida pela imprensa já nos meados do século passado.
A Troça, como era chamado esse grupo de foliões, foi desaparecendo para dar lugar aos combates de serpentinas, confetes e lança-perfumes, ao corso e aos grandes clubes carnavalescos.
Dele, ainda hoje existem resquícios nos arrabaldes, com a apresentação de pequenos blocos de mascarados visitando residências de pessoas amigas, para bebericar. Quase sempre, um dos componentes do animado grupo se fantasia de urso, com a roupa feita de velhos sacos de estopa, e a cauda de trança de cebola. As cabacinhas e laranjinhas foram substituídas pelo talco e farinha de trigo, materiais usados, também, nos salões dos nossos clubes, em lugar da serpentina, do confete e do agradável lança-perfume.
Esses pequenos grupos carnavalescos foram os precursores dos grandes clubes, que cresceram assustadoramente, atingindo o auge nos anos 30/40, quando o carnaval fervia mesmo.
Segundo os mais velhos, o primeiro clube a aparecer foi o “Morcego“, com seus figurantes fantasiados do respeitável vampiro. A seguir, o maceioense passou a contar com uma série interminável de conjuntos destinados a animar o nosso tríduo momesco: “Cavaleiro dos Montes”, “Cara Dura”, “Marítimos”, “Vou Botar Fora”, “As Onze Mil Virgens”, “Vulcão, “Pás Douradas”, “Sai da Frente”, “Caboclinhos” e “As Moreninhas”, entre outros.
Havia uma fase pré-carnavalesca, destinada aos ensaios de blocos e clubes, com visitas noturnas à imprensa local e CRAF, que incentivavam a folia programada, publicando notas animadoras. Era a época da apresentação do livro de ouro, com Rás Gonguila, do Cavaleiro dos Montes, Ceagaelechel, do Vou Botar Fora, e o negro Café, dos Marítimos angariando verba para custeio da festança. Essa fase terminava com um concorrido, alegre e bem organizado banho de mar à fantasia, na praia da Avenida da Paz.
A apresentação oficial era no domingo e na terça-feira à tarde, quando desfilavam pela rua do Comércio, centro nevrálgico das comemorações. O popular “Vou Botar Fora” fugia à regra, se exibindo na manhã dos mesmos dias. Era o mais querido de todos eles e sala da rua do Sopapo, arrastando uma massa humana composta de todas as classes sociais, com o conhecido Ceagaelechel vestido à Luiz XV, empunhando o estandarte contendo gostosa charge. Seu satélite, “As Onze Mil Virgens, bloco do “44 Espada D’Água” o acompanhava, mostrando, paradoxalmente, seus figurantes vestidos de mulher grávida.
O “Cavaleiro dos Montes”, como o nome indica, era o bloco da parte alta da cidade, isto é, Farol, e de lá saia, sob o comando de Rás Gonguila, não no estandarte que ostentava um fidalgo cavaleiro montado num belo ginete e sobre um monte, mas tocando clarim, anunciando a sua passagem. Com este instrumento e fardado de porteiro, anunciava, também, na porta da Fénix, os seus grandes bailes noturnos, frequentados por foliões ricamente fantasiados, com muita animação, confete, serpentina e lança-perfume.
Do Farol saía, ainda, o “Cara Dura“, que não usava livro de ouro, por ser mantido pela família Nogueira, em homenagem a seu antigo e fiel empregado Venenoso, chefe da agremiação. O estandarte estampava o retrato de um cidadão carrancudo.
Quando se defrontavam, havia uma disputa musical, um querendo abafar as marchas tocadas pelo outro, exigindo o máximo de suas afinadas bandas.
No entanto, a maior rivalidade estava ligada ao bloco de Jaraguá, o “Marítimos“, do negro Café, surgindo, inclusive, desentendimentos pessoais nos afamados encontros com seus congêneres do bairro do Farol.
Todos eles mostravam estandartes iluminados com lâmpadas alimentadas com pilha, nas apresentações noturnas, notadamente na última exibição, com a rua do Comércio abarrotada de espectadores, durante a saudosa noite da terça-feira. O “Cara Dura Filho” também por lá aparecia.
Em 1937, o bairro da Pajuçara lançou o “Bola de Ouro”, clube que, além de uma boa orquestra, trazia, na frente, o conhecido “balisa de mola“, Moisés Pequeno. Contávamos, ainda, com o B. C. “Tá Vendo Eu?”
Nas manhãs dos três dias do carnaval, as mesas da Helvética, do Bar Colombo, do Bar e Sorveteria Elegante, do Bar Três Coroas, do Bar Alemão, da Porta do Sol e da Porta da Chuva ficavam repletas de foliões, se preparando para a frevança, que começava à tarde.
O Bar Trianon não fugia à regra, e nele encontrávamos seu proprietário, o Tino, acompanhado de Paulo Ananias. Góes Ribeiro, Humberto Rosa e Silva, Moacir Miranda, Franklin Bittencourt, Hélio Gazaneu. Pedro e Petrónio Viana, João Vasconcelos, Mendonça Braga, Eolo Alencar, Carloman Carneiro e Cebolinha, entre outros grandes guerreiros.
Nessa fase preparatória usavam as cervejas Teutônia, Bohemia e Cascatinha. Os mais afoitos tomavam a Real Brinde, de Romeu Medeiros; a Canoinha, da família Nogueira, e a Gato Preto, do Jecundino Conde, hoje substituídas pela Pitu e Mucuri. Tomavam, ainda, o Whisky “Milord” de Cícero Torres, e a Guaraná Davino, que procurava substituir, com as multinacionais, a gostosa Sisi.
Esses locais eram visitados por pequenos grupos de mascarados, ou por animados casais fantasiados, como Pedrinho da Globo, com Odete, e Netinho com Natalícia. Este último par brincava amarrado pela cintura, fantasiado, ora de Sansão e Dalila, ora de Cleópatra e Marco Antonio. Numa das vezes, o atleta Netinho saiu fantasiado de Ben-Hur, dirigindo uma biga com Natalícia a tiracolo.
O professor Agnelo botava de lado a seriedade e mandava brasa, extravagantemente fantasiado.
Por lá passavam os carnavalescos Otacílio Mala, Zequinha Silveira e Gerônimo Fiuza, distribuindo ventarolas da Rhodia, aqui representada pela firma Guedes & Paiva, e o grande folião feniano, Luiz Ramalho, pai do conceituado dentista, amigo Manoel Ramalho. “Mané Decente”, na intimidade.
Os tipos populares por lá também davam as caras. Augusto Doidinho, pintado de palhaço, parava diante das mesas, para chamar, repetidamente, seus ocupantes de corno! corno! corno!
Curió e Cascavel, que normalmente usavam vestes idênticas às de “Miss Paripueira”, aumentavam a extravagancia vestuária.
Garapa também estava presente, esperando que alguém pelo menos dissesse mel com água, para que ele respondesse: mistura fio da peste! Nega Vapô passava desconfiada e ai daquele que no mínimo procurasse imitar o som do apito de navio: pom! pom! pom!
Mas quem chamava a atenção era a bicha Ramona, ricamente fantasiada de baiana e se rebolando pelo salão, “doida” que um homem pegasse na bunda, para revirar os olhos, desmunhecar e soltar um “ai que gostosura!”. A seguir, tirava um filhós do balaio, melava no mel e saia degustando, com o gingado de sempre.
O rebuliço aumentava, atingindo o máximo de intensidade com a passagem do querido “Vou Botar Fora“, verdadeiro rolo compressor, acompanhado de seu satélite, o “Onze Mil Virgens“. Aí, compadre, a coisa era para empenar. Não havia discriminação de sexo, cor e idade. Todo mundo brincava, descontraído, num ambiente alegre e seguro. Até o carola do Dominguinhos comparecia a essas reuniões, procurando transmitir as novas da sociedade maceioense. Era a safra das fugas casamenteiras, e ele gostava de contar, com detalhes, a façanha dos jovens e apaixonados fugitivos.
Nessas inesquecíveis manhãs carnavalescas, o Bar e Restaurante do Clube Fênix Alagoana procurava esquentar seus sedentos foliões. Era a década de 40 e eu estava em gozo de férias acadêmicas. Para lá fui acompanhado de Geraldo Acioly, Estácio Albuquerque, Rostand Wanderley e Zito Sarmento.
A matinal, como chamavam o encontro, estava animada e todos nós brincávamos a valer. Lá para as tantas, pedi que a banda executasse minha música favorita. O garçom dera o recado várias vezes e nada de sair a tão esperada “Meu Consolo é Você”. Achei, então, que deveria fazer, pessoalmente, a solicitação, indo até o posudo maestro. O pedido continuou no “gelo”, obrigando-me a tomar uma atitude. Subi no estrado, furando o bombo com um forte pontapé. O músico não gostou e procurou reagir, levando uma bela e baita tapona. O maestro, que estava por trás de mim, quebrou uma garrafa e empunhando o gargalo, tentou me agredir à traição. O fiel camarada Geraldo acompanhando atentamente os acontecimentos, não titubeou e deu-lhe uma bem aplicada gravata, levando-o ao solo. A luta foi grande e após o amigo Geo dominá-lo, entra em cena Zito Sarmento, conseguindo tirar da mão do inimigo a perigosa e traiçoeira arma. Para finalizar. Geraldo pegou suas orelhas, batendo fortemente com a cabeça no piso. Dizem que ele passou o carnaval com os ouvidos inchados e com hipoacusia, impossibilitando-o de exercer o oficio de mestre de música.
A ocorrência foi bastante comentada, por se tratar de uma raridade. Porém, não encontramos outra saída, em face da petulância dos adversários, destituídos do indispensável espírito de urbanidade. Infelizmente, fugimos à regra, mas valeu a pena a lição dada aos irreverentes músicos.
CARNAVAL II
Deixemos de lado esse inesperado e negro acontecimento e voltemos à beleza carnavalesca.
Depois de um lauto almoço, seguimos, à tardinha, para a rua do Comércio, núcleo das festividades que, como sempre, apresentava corso e frevo dignos de uma saudosa reciclagem.
O primeiro era formado de carros conversíveis, das décadas de 20, 30 e 40, levando foliões ricamente fantasiados.
O trajeto tinha início na Agência Ford, de Gonçalves & Cia., percorria a rua do Comércio e circundava a Praça dos Martírios, voltando pela rua do Comércio, em mão e contramão.
Houve época em que este percurso sofreu uma modificação e os carros retornavam pela rua da Boa Vista, com destino à Agência Ford, passando pelo Bar do Tino. O trânsito ficava a cargo do Inspetor Oscar Marinho.
Constituía o campo destinado aos memoráveis combates de serpentina e confete. Em pouco tempo, a rua ficava repleta de elevados montes do material empregado nas inesquecíveis batalhas e que serviam de “colchão” para repouso dos sedentos foliões, nos intervalos musicais.
As serpentinas e confetes eram adquiridos, facilmente, na maioria das lojas lá existentes, que abriam apenas uma de suas portas para suprir os fregueses, vendendo, também, máscaras, fantasias, adornos e o célebre lança-perfume. Este era encontrado, ainda, nos bares, farmácias, restaurantes e tabacarias. Guedes & Paiva acompanhava o movimento, oferecendo, além de confete e serpentina, os lança-perfumes da Rhodia, por ela aqui representada: Rhodo de Vidro, Rhodo Metálica e Rhodouro. Quem desejasse Rigoleto, Pierrot, Colombina, Flirt e Vlan, que batesse em outra porta e ai. O maior vendedor de lança-perfume, em Maceió, era o seu Taveiros, com casa instalada na rua do Alecrim, defronte ao Mercado Velho.
Havia comércio livre para esse tipo de produto volátil e embriagador, à base de cloreto de etila perfumado. Ele puro era usado em Medicina, como anestésico, sob duas formas, geral e local (KeIene da Rhodia).
Naquele tempo, os foliões usavam lança-perfume para os combates entre os casais apaixonados, ou para iniciar um namoro com amor recolhido.
A duração da batalha dependia do grau de paixão existente entre os combatentes e, às vezes, esvaziavam dois tubos, um em cada mão, num dos inúmeros encontros. A meta era ambos os colos e, nas exposições demoradas, podia queimar a delicada cútis da jovem namorada.
Quando o jato, por infelicidade do paquerador, atingia os olhos da amada, a coisa mudava de figura. Era muito Pierrot apaixonado, correndo atrás da Colombina, para pedir perdão, que chorava, não de amor por Arlequim, mas de conjuntivite produzida pelo cloreto de etila.
Às vezes, um gaiato jogava o líquido em direção da região pudenda de um dos companheiros de folia, o que provocava uma forte sensação de queimor. O desconforto era tão grande que o obrigava a correr para um local em que pudesse expor, ao vento, os órgãos genitais para o tão desejado e rápido alivio.
Com o passar do tempo, o jato do lança-perfume foi deixando de ser aplicado no colo dos namorados, nos olhos e nas braguilhas, e tomou outro rumo, o lenço, para produzir efeito alucinatório nos foliões. Como se trata de um produto tóxico, com repercussão sobre o sistema nervoso e o coração, o governo aboliu o seu uso, diminuindo a alegria e a fragrância carnavalesca. Enquanto isso, o contrabando corre solto, beneficiando alguns adeptos.
O corso contava com a presença dos aficionados automobilistas, Gaspar Ferrario e seu cunhado, o conquistador Carlos Lobo, que todo ano importavam automóveis; Pedro Rocha (Crispim da Bóia), com sua célebre baratinha Ford, e a inseparável dupla Aloísio Calheiros e Plínio Fonseca, no bem cuidado Essex, sob a mira do inimigo gratuito, Inspetor de Veículos Oscar Marinho.
As mulheres-damas mais abastadas também faziam o corso, em carros alugados: Dina. Joaninha, Railda, Zezé Loura e Latira Peituda, amante de Fausto Feitosa e que em peito desbancava até Fafá de Belém. Mossoró não passava por baixo, e mesmo como pintor de paredes, desfilava em carro aberto, com Gedalva, sua primeira amante. Era proprietária do Cabaré Tabaris, de quem tornou-se sócio. Foi assim que ele iniciou sua próspera carreira, como dono da noite maceioense.
Quanto ao frevo de rua, era realmente contagiante e o povo contava com três bandas de música, tocando em palanques armados em pontos estratégicos: Relógio Oficial, Praça dos Martírios, e o mais animado, instalado no cruzamento da rua 1º de Março com a rua do Comércio. Neste local, a concentração popular atingia o limite máximo, com foliões invadindo o trecho compreendido entre o oitão da Farmácia São Paulo, de seu Ageu Pimentel, e a Feira Franca, de Benjamin Medeiros.
As orquestras contratadas eram a do Maestro Passinha, a de Coqueiro Seco e as de Rio Largo, masculina e feminina.
O rebuliço dominava toda a artéria principal da cidade, com acentuada intensidade nos locais situados junto dos palanques, especialmente na Farmácia São Paulo. E. quando as afinadas bandas executavam as excitantes músicas da época, por lá só passava quem tivesse “bom no balaio“, saúde e disposição para topar a parada. Os reumáticos, os portadores de melancolia e outras doenças, e mesmo os convalescentes, nem por perto davam as caras, pois a “guerra” era pra valer e podiam ser arrastados pela grande avalanche formada por uma massa uniforme de gente querendo dançar mesmo, sem hora para parar. Era uma sarabanda maluca, com a multidão se acotovelando, rindo, cantando e pulando, na turbulência permitida pelo evento.
Entre os pontos de concentração, isto é. entre os palanques, pequenos grupos de casais brincavam fantasiados, em homenagem às marchas recentemente lançadas: “Jardineira“, “Nesse Passo Vou até Honolulu”, “Aurora”, “Meu Consolo é Você”, “Amélia“, etc.
Esses blocos faziam gostosos assaltos nas casas de amigos que possuíam piano, nas manhãs carnavalescas, com ensaios no período que antecedia ao reinado de Momo. Na rua, eram comandados por um casal líder encabeçando a fila, que saía serpenteando, sob os aplausos dos espectadores postados nas calçadas. No auge, fechavam o círculo, para que no centro um dos casais exibisse sua performance passista. Nos assaltos usavam batida, cachimbo e lacupaco, com tira-gosto de caruru, vatapá e muitas comidas baianas. Na rua, se alimentavam de sanduíches levados em sacolas. O confete, a serpentina e o lança-perfume eram por eles também usados, na quente frevança.
Não paravam nem durante o desfile dos grandes clubes, embora o “Sai da Frente” viesse anunciando: Sai da frente que aí vem gente! Havia, no entanto, uma exceção, parando para aprender o passo com o exímio professor Moleque Namorador, de quem fui um assíduo aluno, dando-me a chance de ser tetracampeão do Clube Fênix Alagoana.
Não podemos deixar de relembrar, ainda, as concorridas manhãs de segundas-feiras, oferecidas pela família Paiva, no balneário do centro fabril de Rio Largo.
Nos nossos carnavais, além dos sambas e marchas importados do Rio de janeiro e dos frevos pernambucanos, o maceioense vibrava com as músicas criadas pelos conterrâneos. Em todos os encontros momescos, era cena a execução da marcha-frevo Vou Botar Fora, de autoria do carnavalesco Otacílio Maia, em homenagem ao querido bloco, com o mesmo nome, o mais querido da paróquia:
Viva a suprema alegria
Tristeza que vá embora
Porque no frevo se canta
Quem não gostar da folia
Vou botar fora, vou botar fora…
Cantavam, ainda, com fervor, a seguinte marcha, cujo autor não consegui identificar e lembrada pelo pesquisador Miguel Vassalo Filho:
Quebra, quebra. Guabiraba
Quero ver quebrar…
Quebra lá. que eu quebro cá
Quero ver quebrar.
No entanto, a música preferida, verdadeiro hino da alegria do maceioense, era a marcha (frevo-canção) Sururu da Nêga, de autoria dos conterrâneos Pedro Nunes e Aristóbulo Cardoso, criticando a falta de um porto marítimo e a não exploração do nosso petróleo. Mesmo depois da construção do cais e do ouro negro ter jorrado em Riacho Doce e na Ponta Verde, o povo ainda a usava na animação de suas festas:
O Sururu da Nêga
Coro:
É da Favela?
Não…
Nega Jujú
Nasceu num rancho
Na terra do Sururu.
1
(Bis)
Quadris roliços
O cabelo atrapalhado
Quem vê diz que traz feitiços
No olhar apimentado
Cavando a vida
No Canal do Mundaú
Pesca caboclos
Maçunim e Sururu
Coro:
É da Favela? etc…
Em Bebedouro, no Farol,
Na Ponta Grossa
Com o Sururu da Nêga
A folia é nossa
Não há Petróleo, não há Porto
Não há nada.
O bom problema
É o Sururu lá na Levada
Coro:
É da Favela? etc…
CARNAVAL III
A alegre festa da rua do Comércio corria solta até às 22 horas, quando as bandas encerravam a execução de belos e saudosos sambas, frevos e marchas. Era a hora de ir para casa se preparar para enfrentar os grandes bailes oferecidos pelos nossos clubes, não de bermudas e chinelos, mas a rigor ou com ricas fantasias.
No início de sua existência, a Novacap não contava com locais destinados às reuniões sociais, as quais eram realizadas nos palacetes dos potentados da nova metrópole, os célebres saraus. A seguir, lançaram as festas de igreja e as retretas, para que houvesse o indispensável contato entre as famílias que formavam a sociedade local, com a apresentação de vestuários da “belle époque“, em pleno século XIX.
Em 1886, precisamente no dia sete de setembro, data comemorativa de nossa independência, um grupo da elite alagoana achou por bem criar um clube social, no qual tornou parte um representante de nossa família, o fundador e sócio benemérito Manoel Bittencourt Vasconcelos. Tinha como finalidade melhorar o convívio entre as famílias aqui residentes, e implantar o carnaval de salão, que na época era apenas de rua, com a apresentação do entrudo, formado por grupos de fantasiados para combates com laranjinhas e cabacinhas, brincadeira condenada, com veemência, desde o início pela imprensa local.
O nome escolhido para o importante Clube, Phênix ou Fênix, do grego (Phoínix) é o de uma fabulosa ave que, segundo uma lenda antiga, vivia muitos séculos nos desertos árabes e que, após ser queimada numa fogueira, renascia das próprias cinzas. O termo passou a ser usado para designar o que é superior, único no seu gênero.
No início de suas atividades, na antiga sede localizada na rua Barão de Jaraguá, a alta sociedade alagoana desfrutava de um ambiente luxuoso e acolhedor para as grandes comemorações. Segundo os mais velhos, os associados ricamente trajados (fraque, cartola, luvas e bengala), acompanhados das esposas e filhas, com vestidos de soirée, leques, ricas peles e joias valiosas, para lá se dirigiam em seus bem cuidados coches, ou em bondes de burro, previamente fretados.
A entrada nos salões era assistida por um concorrido sereno, postado na calçada do clube. Para o reinado de Momo, organizavam um luxuoso Zé Pereira, e os bailes eram a rigor ou com ricas fantasias. O novo clube tinha levado o carnaval para os salões, permitindo que as famílias nele tomassem parte.
Segundo meus ancestrais, na grande festa de aniversário da querida agremiação, os sócios, seus familiares e convidados nada pagavam para o régio banquete, composto de finas iguarias e regado com vinhos importados, inclusive champanha francesa.
Não poderia ser melhor a escolha do nome dado à nova sociedade e, embora não tenha desaparecido, para renascer das suas próprias cinzas, ainda é, doa a quem doer, insuperável no seu gênero, mesmo enfrentando forte influência do modernismo que vem procurando modificar o estilo acolhedor, respeitoso e tradicional de sua origem dominante até os decênios 30, 40 e 50.
Seu carnaval, hoje, pode ser comparado a um grande entrudo, que deixou definitivamente as ruas, invadindo seus salões. Destruíram o romantismo observado no passado e o que se fazia somente nas ruas, agora é realizado no clube.
Houve uma unificação desastrosa, semelhante à da previdência social, abolindo a grande diferença existente entre os dois tipos de comemorações, a de salão e a de rua.
Felizmente, tive a grande ventura de conhecer essa fase tradicionalista ainda usada na nova sede, situada na Praça Napoleão Goulart e construída pelo engenheiro Aloisio Freitas Melro, sob o patrocínio do dr. Quintela Cavalcante, gastando na empreitada a quantia de 400 contos de réis.
Brincava na rua até às 22 horas. Ia para casa descansar e, após um gostoso banho, vestia uma fantasia (década de 30), ou “summer-jacket” (década de 40), para brincar na Fênix e visitar outros clubes. Só passei a usar “smoking” a partir de 47, ano de minha formatura.
Naquela época, não havia borboleta nem porteiro. Os associados, seus familiares e convidados eram recebidos, gentilmente, pela Diretoria, que ficava postada no saguão do clube e vestida a rigor.
Não existia a extensa e fatigante fila, serpenteando os prédios vizinhos, com foliões seminus e de sandálias, carregando pesadas sacolas contendo toalhas para controlar a sudorese profusa a ser enfrentada. Outros levam comida e, principalmente, o “scotch“, para não pagar a vergonhosa rolha, cujo preço, às vezes, é superior ao da bebida levada.
É uma fila comparável à do Inamps, onde os doentes passam horas aguardando o atendimento, que na maioria dos casos não é realizado.
Na calçada não havia desocupados nem ladrões de carros e assaltantes. Lá encontrávamos Rás Gonguila, com farda de gala (boné e túnica com botões dourados), anunciando a festa através de fortes toques de seu potente clarim, além de um seleto sereno assistindo à passagem dos foliões e fazendo comentários sobre a série interminável de luxuosas fantasias: palhaços, pierrôs, arlequins, colombinas, rigoletos, sultões, odaliscas, mandarins, gueixas e os tão falados marajás. Havia, também, grupos formados de holandesas, baianas, espanholas, cossacos, portuguesas, havaianas, jardineiras, peles-vermelhas, piratas da perna de pau, etc.
Não contávamos com rei Momo oficial, mas o imperador da alegria era quase sempre representado pelo conceituado agente da Costeira, o grande folião Luiz Ramalho.
Dessas encantadoras reuniões carnavalescas nada mais existe, a não ser um leve esboço daquilo que dominava no passado. Trata-se da matinê infantil, com a presença de algumas crianças fantasiadas, para matar a saudade de muito vovô coruja.
Dentro dos moldes tradicionalistas, só a festa de aniversário, no dia 7 de setembro, sem a gratuidade usada no passado, e a noite de São Silvestre, em 31 de dezembro, o tão esperado “reveillon“.
Lá dentro, a folia rolava numa animação não contaminada com “bafo-de-onça“, mesclado com o odor do suor, rico em ácido capróico ou da bromidrose exalada por algumas das axilas da moçada delirante, mas pelo cheiro suave dos lança-perfumes.
Como bebida, usavam, além das cervejas existentes na época, martini, seco e doce, vermute, vinho madeira, R e M, conhaque macieira, cinco estrelas, e a única marca de uísque que por aqui aparecia, White Horse. O aparecimento de qualquer outro “scotch” constituía rara exceção.
Nos velhos tempos só admitiam a presença de senhoras judicialmente casadas, criando sérios problemas para as desquitadas e companheiras. Os homens estavam isentos de tal exigência e podiam comparecer sós ao clube.
O tabu foi derrubado no início da década de 30, pelo saudoso colega e conterrâneo Clemente Magalhães (Kelé), que ao voltar com todo gás, em cirurgia e “society” do interior de Minas Gerais e separado da esposa, trouxera como companheira uma sua ex-enfermeira.
A elegante e educada Bianca foi bem recebida no seio da comunidade feniana, onde desfrutou do merecido destaque. O seu caso abriu uma grande brecha para outros semelhantes.
Por falar em Bianca, ainda hoje a sociedade maceioense lamenta e não aceita seu inexplicável assassinato, praticado na velhice pelo próprio Kelé, estimado e inseparável companheiro na lida diária desde a juventude.
A festa era animada pelos foliões Otacílio Maia, autor da letra da marcha do Vou Botar Fora, Luiz Ramalho, Zequinha Silveira, Fernando Oiticica e seu Macieira, com suas inseparáveis filhas e o indefectível colete.
Foram eles que me incentivaram a continuar com suas brilhantes apresentações. Cheio de entusiasmo e não contando com outra opção, botei de lado o tradicionalismo e, a partir de 50, mesmo constrangido, aderi ao movimento reformador, deixando, inclusive, de brincar na rua. Aí, compadre, a guerra foi pra valer, enfrentando o envolvente Zé Cabral, o Pisão sempre travestido, Zé Alexandre com sua respeitável sombrinha e Carlito Lima, dotado de grande resistência. Mandei aquela brasa e, com os ensinamentos adquiridos nas aulas ministradas pelo professor Moleque Namorador, na Praça Deodoro e na rua do Comércio, consegui o tetracampeonato de folia feniana.
Brincava sozinho e em minhas incursões pelo salão, usava dois elementos que me tornaram conhecidos e, ainda hoje, são lembrados: um pequeno bastão negro e um chapéu coco vermelho escarlate. Com eles enfrentava os concorrentes, brincando a valer, em todas as festas, das pré-carnavalescas (Baile de Máscaras. Preto e Branco. Noite no Havaí. Até o Sol Raiar, etc.) aos bailes do tríduo momesco. Em todos eles começava com a primeira música e só parava quando a orquestra desarmava os instrumentos para guardá-los. Não admitia recesso, mesmo porque, se dormisse no ponto, cairia do cavalo, indo o título parar nas mãos de um dos fortes e sedentos rivais. Tinha que ser raçudo e mandar brasa a todo vapor. Era o que eu fazia com fervor, para não dar uma miada “zé-elisiana“. Para “esquentar o motor” passava, antes, na residência dos amigos Benedito Bentes (Bené), Geraldo Acioly (Geo) e Dalmo Peixoto. Nesta última fazia um passo todo especial, por mim denominado de “zaturizar“.
Feliz a plêiade de conterrâneos que teve a ditosa ideia de criar, no século passado, um clube que vem correspondendo ao nome por ela sabiamente escolhido. Podemos denominá-lo, também, de “O Jequitibá” das agremiações alagoanas, por sua semelhança com esta frondosa árvore da família das Lecitidáceas e resistente às intempéries através de sua longa existência. Seus célebres bailes eram os atrativos mundanos daquela época e todo mundo elegante a ele acorria.
Seu surgimento serviu, ainda, para fomentar a criação de novos clubes no seio de nossa comunidade.
CARNAVAL IV
MEU TIME, o CSA, fundado em 1913, não aderiu ao movimento, dedicando-se. desde o início, apenas aos esportes, dando grande impulso ao futebol e ao remo. Já o seu principal êmulo, o CRB, surgido um ano antes (1912), para substituir o Clube Alagoano de Remo, além do esporte bretão e do remo, contava com um salão para os bailes de seus associados, na própria sede, situada na rua do Comércio, nos altos da Casa Singer, onde apresentava saudosas festas.
Na portaria, a fiscalização ficava a cargo do Zé, profundo conhecedor da família regatiana, e por lá só passava quem estivesse devidamente enquadrado nas normas estabelecidas pela diretoria. Era negro, gostava de um bem engomado terno de brim branco, de algodão, da fábrica Progresso, gravata vermelha e um bom “mata-rato“. Era assim que percorria as ruas da cidade, com uma pesada pasta de couro, para fazer a cobrança das mensalidades.
Estive pela primeira vez na sede do Galo de Campina quando criança e levado pela mão de seu ídolo Moacir, o maior “full-back” alagoano naquela época. Amigo e colega de meu pai, no Banco Norte do Brasil, embora fosse regatiano, tinha grande relacionamento com nossa família, que sempre foi azulina. De espírito alegre, usava cachimbo e não deixava de lado uma vitrola RCA Victor. Sua música predileta era “loió de laiá”, que cantava com entusiasmo quando nos visitava:
Ai loiô,
Eu nasci prá sofrer
Fui olhar prá você
Meus ninhos fechou
Quis gritar. quis fugir
Mas você
Eu não sei porque
Você me chamou…
Ai loiô,
Tenha pena de mim
Meu Senhor do Bonfim
Pode inté se zangar
Se ele um dia souber
Que você é que é
O loió de laiá
Chorei toda noite pensei
Nos beijos de amor que te dei
loiô meu benzinho
Do meu coração
Me leva prá casa
Me deixa mais não…
Cantava, também, Dorinha, Jura, Nos Pés da Santa Cruz e Gosto que Me Enrosco.
O salão tinha as cores do clube, isto é, era alvirrubro e apresentava grandes pinturas de momentos esportivos: um remador num esquife, o goleiro pegando o bolaço, o atacante furando um belo gol. etc.
Dividindo o salão em duas partes, havia, no centro, várias colunas recobertas de espelhos que serviam para os pares observar se estavam ou não elegantemente trajados e dançando como mandava o figurino.
Poucas foram as festas por mim assistidas na antiga sede do CRB, que logo depois passou a funcionar no prédio da Fênix Alagoana até a inauguração do edifício construído na praia da Pajuçara.
Na Fénix, realizava a tradicional Festa dos Pedros, no dia dedicado ao apóstolo, em homenagem a vários de seus presidentes que tinham este nome.
No carnaval, dividia com a Fênix as festas momescas. O clube anfitrião utilizava seus salões no domingo e terça-feira, e o Regatas, no sábado (Festa do Perfume) e na segunda-feira.
O alagoano contava. ainda, com outra sociedade dançante, situada na rua do Livramento, nos altos da Casa das Tintas, dos irmãos Breda. Chamava-se “Aliados” e nos decênios de 50 e 40 foi dirigido pelo folião Aderbal Fontan que, contando com a colaboração dos irmãos, Arnoldo e Luiz, todos fantasiados de cossacos apresentava animadas festas carnavalescas. O êxito era repetido nas festas juninas, tirando o sossego da pacata família do amigo Afrânio Tenório, residente ao lado do animado clube. Foi de ferver o carnaval de 38, com a presença do badalado bloco “Dragão Azul“.
Nos saudosos anos da década de 40, fiz amizade com o lusitano António Antunes, com quem brinquei em grandes carnavais realizados no clube por ele fundado, o Português, cuja sede ficava situada perto de sua residência e empresa, o Café Leão do Norte, hoje Afa.
O local é o mesmo, onde hoje existe o que restou da sociedade criada com tanto carinho e entusiasmo pelo velho amigo Antunes e seus patrícios residentes em Maceió, no antigo palacete da família Florêncio. Houve erros por parte dos sucessores do abnegado fundador na maneira de conduzir os destinos da agremiação, e tudo indica que jamais ressurgirá.
Não nasceu como a ave feniana, para renascer das próprias cinzas, nem como Jequitibá, símbolo de resistência às intempéries.
Durante a permanência de Antunes na Presidência, era um clube respeitado, contando com integral apoio de nossa sociedade e, além de um quente carnaval, promovia uma bela festa no dia de Santo António, padroeiro dos portugueses. Era um típico festival ibérico, com muito vinho verde acompanhado de bolinhos de bacalhau e outros salgadinhos da cozinha lusitana.
O grande amigo e velho guerreiro fazia questão de que eu o acompanhasse em suas visitas oficiais aos outros clubes espalhados pela cidade, íamos a rigor e os brindes eram na base da champanha francesa e uísque da família Haig.
A agremiação servia também como ponto de encontro do velho pajé com seus amigos. No fim das tardes, ao deixar o escritório e antes de ir para casa, ao lado da firma, por lá passava, para um bom bate-papo para bebericar com Eolo Alencar, Cebolinha, Moacir Miranda, Carloman Carneiro, Reostato Barreto e Ordener Cerqueira, com seu “querido sogro”, entre outros.
O Clube Português mantinha um bar e restaurante, a cargo do gotoso, pornográfico e malcriado “portuga” Agostinho. Mesmo assim, ficava emocionado e chegava a chorar diante de pronunciamentos exaltando o valor dos patrícios e da longínqua terra natal.
Sabedores desse seu ponto fraco, Arnoldo Jambo e Faro Melo, que estavam sem dinheiro para uma “senhora” farra, fizeram grandes discursos enaltecendo Portugal e sua gente. A comida e a bebida correram soltas e na hora de pagar, o apaixonado lusitano, com os olhos inundados de lágrimas, não aceitou. acrescentando:
— Vocês nada me devem. E, diante do que ouvi, serei um eterno devedor dos ilustres amigos!
Na década de 50, o movimento era grande e, nos fins de semana, cantava com a presença de destacados fregueses: Wilson Flores, Cyro Acioly, Geraldo Coutinho, Benedito Rentes, Altamir da Cosia Barros, Diógenes Gama, James Costa, Érico Fontes Lima, Amoldo Jambo, Odilon Souza Leão, Alberto Jorge, Faro Melo, Geraldo Prata, Montargyl, Hélio Gazaneu, Paulo Vasconcelos, Jarsen Costa, Maninho Wucherer, o sentimental José Alexandre, com suas constantes crises de choro, e Abelardo Cardoso (Milionário).
A eles me juntava para assistir ao grande “show”, oferecido pelos amigos: Carlos Adami (violino), Parada (cantor), Netinho (violão), Alberto Paia (violão), o cronista social Marcos Vinicius — Ícaro (violão e canto) e o eterno aprendiz de violão, Anselmo Botelho, o Padre.
O espetáculo fora de série, digno de ser visto e sempre relembrado, era encerrado com Parada cantando Granada. Nos intervalos, entrava em cena o “homem show” Eloi Paurílio, imitando, com maestria, todos os instrumentos, inclusive bateria. Vez por outra, a tertúlia contava com a colaboração de Aldemar Paiva, vindo de Recife em visita à família e amigos, ou Fernando Plech (Maçarico), em gozo de férias.
Nesses dias, o prato preferido era a dobradinha à moda do Porto, preparada pela portuguesa d. Maria, esposa de Agostinho, e a bebida era na base de várias marcas de “scotch” importado, de contrabando, modalidade dominante na época.
O clube era frequentado, também, por Góes Ribeiro e outros políticos e, num desses encontros, assassinaram o advogado Washington Loyola, cunhado de Sandoval Caju, abalando a conceito do clube.
Em 1950, recém-casado, passei o carnaval em plena lua de mel, indo com a cara-metade, Telinha, que não gosta de brincar, ao primeiro “Baile dos Marujos”, do late Clube Pajuçara, em companhia de sua prima, a saudosa foliã Wanda Sarmento e seu esposo, amigo Manoel Toledo. A fantasia exigida era de marinheiro para ambos os sexos e a grande festa realizada num improvisado palanque de madeira, construído no local onde erigiram a sede atual.
Finalmente, o maceioense menos favorecido brincava pra valer nas quatro festas no Centro Recreativo Aliança Familiar, situado na esquina da rua Cirilo de Castro, defronte ao Mercado Novo.
Assim era Maceió, nas saudosas décadas de 30, 40 e 50, e que por isso merecia ser chamada Cidade Sorriso. Muita coisa alegre desapareceu, inclusive o honroso título, embora não tenha desaparecido a animação do seu povo, mesmo enfrentando a falta de segurança.
Sua história, hoje, pode ser comparada a do “Chapeuzinho Vermelho”, a menina que entrava no bosque alegremente e sem problemas, para visitar sua estimada vovó. Com o passar do tempo, surge um lobo mau para eliminá-la. O maceioense, que antigamente saia alegre e despreocupado, para dar vazão ao seu espirito brincalhão, hoje sai altamente estressado, com medo do lobo mau existente na cidade e tão bem representado pelos impunes assaltantes.
*O título é da editoria do História de Alagoas. O texto original está distribuído em quatro capítulos e foi publicado no livro “Corrupio – Memórias 2”, de Ednor Bittencourt, Maceió, 1992.
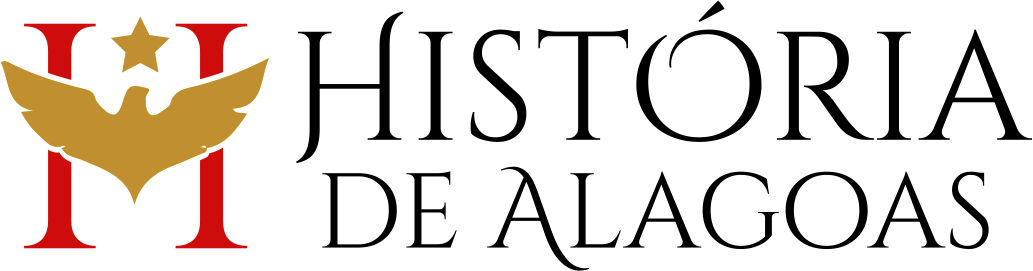
















PARABÉNS,PARABÉNS e PARABÉNS
QUE VENHAM MUITAS OUTRAS PUBLICAÇÕES(“HISTÓRIAS”) DA NOSSA QUERIDA MACEIÓ.
Ticcianelli, em todas as informações sobre Nossos antigos carnavais não visualizei nenhuma alusão ao grande folião FUSCO, que residia na rua das árvores próximo ao restaurante do SESI.
Nada tens sobre ele ?
Não tem nada sobre os Clube Portuguesa e Alagoinha, Ricardo Cintra.
É maravilhosa a história do carnaval da minha amada Maceió.
Parabéns por esta grande pesquisa, mais desejaria saber onde posso buscar mais informações sobre blocos carnavalesco de bairros de Maceioense. Ex: “Cavaleiro da Lua”.