O enterro do Mainha
Continuava chovendo e o caixão começou a deslizar ladeira abaixo. Alguém viu e o aviso foi dado. Mestre Aurino saiu à rua gritando: — Segure o caixão, moleque filho da puta. A correria foi grande, mas conseguiram salvar o defunto de um acidente mais grave.
 Cine Santa Leopoldina nos anos 50 em Colônia Leopoldina, terra de Ernane Santana
Cine Santa Leopoldina nos anos 50 em Colônia Leopoldina, terra de Ernane Santana

Ernane Santana, autor de vários livros e um grande contador de causos
Ernane Santana Santos*
Mainha ou Bichinho de Maia era filho de um pastor que, na década de 1950, foi se instalar numa pequena cidade do interior de Alagoas. Para tristeza do pastor Maia, seu filho era chegado a uma aguardente. Frequentador assíduo do cabaré da cidade, logo ele e seus novos amigos de copo ficaram famosos por beberem sem limites. Uma decepção para a sua família. Mainha vivia afastado dos caminhos da salvação recomendados pelo seu velho pai. Passava o tempo mergulhado no álcool, como cobra de farmácia.
Enquanto seu pai orava para salvar as almas, Mainha entregava-se de corpo e alma aos prazeres da vida mundana. As más línguas afirmavam que ele afanava o dízimo da igreja para pagar as suas farras. Os poucos períodos em que ficava sem beber, por insistência da família, trabalhava cortando cana nas fazendas próximas da cidade. Atormentado pelo efeito da abstinência alcoólica, ele dizia ver pequenos animais andando em cima do seu corpo (daí seu apelido de Bichinho de Maia). Em seu delírio, afirmava que via os copos da bodega baterem uns nos outros e falarem: — Vem Mainha, vem beber pinga. Atendendo ao comando das vozes, não demorava e Mainha largava o trabalho e voltava a frequentar a bodega do seu Otacílio, seu recanto preferido.

Uma típica Bodega sertaneja
Muitos eram os seus amigos de vida desregrada, todos pertencentes à classe social mais pobre e com pouca ou quase nenhuma instrução escolar. Dentre eles, os mais aproximados eram o André de Sá França, um jovem epiléptico, exímio tocador de pandeiro do cabaré local. Outro companheiro de copo era o Zé Mansinho, um sujeito franzino e de fala mansa, que servia de guia para o cego sanfoneiro Deodato. Amaro Sena era outro biriteiro, conhecido pela mania de imitar um guarda de trânsito aos domingos, quando vestia calça caqui, colocava um cinturão afivelado, um boné na cabeça e com um apito na boca e gestos extravagantes comandava o caótico trânsito da pequena feira da cidade. Aratanha, de aspecto pálido e doentio, tossia muito e sofria de “fôlego curto”. Com os tornozelos quase sempre inchados e olhos empapuçados, surpreendia como o melhor zabumbeiro da região. Aratanha ganhou essa alcunha por causa de uma famosa cachaça, em cujo rótulo havia o desenho de uma aratanha (uma espécie de pequeno camarão de água doce).
Sua relação de amigos continuava com Mestre Aurino, sapateiro de profissão e praticante de capoeira. Fausto era o vigia da casa grande do engenho pertencente ao prefeito da cidade. Bebia tanto que um dia foi acometido de um derrame cerebral, deixando-o meio abobalhado, com dificuldade para andar e falar. Mané-pé-de-quengo, Zé de Júlia e Migué Cego eram também conhecidos como bons bebedores. Migué ficara cego após ser baleado no cabaré pelo filho de um rico fazendeiro, tudo porque o coitado, já biritado, insistia que o rapaz lhe pagasse uma dose de cachaça. Pedro Zanóio era um excelente limpador de fossas e justificava que bebia por necessidade do seu trabalho.

Cantigas de Sentinela ou Incelências, uma tradição nordestina
Nas farras, Mainha e o seu grupo sempre eram acompanhados pelas mulheres-damas Maria Gordinha, Maria Galega e Maria Cachacinha, conhecidas como as três Marias. Quando ficavam embriagadas, tiravam as roupas e, por mais de uma vez, foram trancafiadas no xilindró por desacato à autoridade e por atentado ao pudor.
Certo dia, Mainha, como sempre, bebeu além da conta. Chegou em casa, disse os costumeiros palavrões à família e foi dormir. Na manhã do outro dia foi encontrado morto. Mortinho da Silva. A notícia de sua morte se espalhou pela cidade. A casa do pastor Maia foi invadida pelos curiosos, pessoas da família e, principalmente, por seus amigos biriteiros, que lamentavam pelo amigo ter morrido logo no mês de junho, com o calendário todo cheio de festas e farras. Esquecendo que o pai de Mainha era um pastor, pediram para organizar em sua casa uma Sentinela, para cantarem as Incelênças. Uma tradição das zonas rurais do Nordeste brasileiro, quando os cânticos e homenagens são sempre molhados com muita cachaça. Não houve acordo. O pastor não concordou com semelhante homenagem.
Para eles, aquilo era um absurdo. Era inaceitável se jogar fora uma rara oportunidade de se beber a noite inteira. A solução foi logo encontrada com a proposta de se fazer a Sentinela sem o defunto presente. Sem perder tempo, foram pedir a ajuda do Erasmo, competente auxiliar de carpinteiro, que recebeu a incumbência de improvisar um caixão de defunto. Uma vez de posse da encomenda, e sem o corpo do defunto, se dirigiram para a Rua do Cabaré, onde a Sentinela foi armada num dos salões. Colocaram o caixão em cima de três tamboretes e imediatamente começaram a cantar as Incelênças de Despedida, enquanto as velas eram acesas. E assim passaram a noite, entre terços, ladainhas, choros e muita pinga: tudo acompanhado pelo velho sanfoneiro Libra, que sempre conseguia enfiar um baião entre uma lágrima e outra.

Gravura de uma Incelência
Já pela manhã, debaixo de uma forte chuva, dirigiram-se à casa do defunto para ajudarem a conduzir o caixão até o cemitério local. Sem muita conversa foram chegando, tomaram o caixão nas mãos e iniciaram a última caminhada com o amigo. O percurso foi imediatamente alterado e, sob o comando dos trôpegos amigos, o corpo do Mainha foi levado até a Igreja Matriz, coisa que o pai e pastor não desejava. O padre, meio sem jeito, mas sem querer contrariar os filhos de Deus inebriados pelo álcool, encomendou a alma do filho do pastor.
Após o ato religioso, a segunda parada foi na bodega do Otacílio. Deixaram o caixão no meio da rua, já todo encharcado de água da chuva, e beberam mais algumas doses em homenagem ao falecido, sem darem ouvidos aos protestos dos acompanhantes. Em seguida, desceram pela Rua das Pedrinhas e pararam noutra bodega, ficando o caixão mais uma vez no meio da rua e exposto à chuva. Prosseguiram no roteiro etílico pela Rua da Boa Vista, onde se detiveram numa vendinha existente na esquina do Beco do Esconde Negro. Continuaram a beber enquanto o caixão do pobre Mainha, já todo sujo de barro e ensopado, estava quase se abrindo de tanto ser jogado no chão nas paradas alcoólicas.
Por fim, após muitas reclamações da família e dos acompanhantes, o cortejo fúnebre partiu em direção à Rua do Cemitério. Todavia, antes de subir numa estrada de barro próxima ao portão do lugar do “repouso eterno”, o grupo parou mais uma vez, agora no boteco do Zé Ferrão. Mestre Aurino, o chefe da embaixada fúnebre, pediu a um menino, seu parente, que tomasse conta do caixão. Continuava chovendo e o caixão começou a deslizar ladeira abaixo. Alguém viu e o aviso foi dado. Mestre Aurino saiu à rua gritando: — Segure o caixão, moleque filho da puta. A correria foi grande, mas conseguiram salvar o defunto de um acidente mais grave.
A comitiva segue e, já no cemitério, para surpresa de todos, a cova aberta pelo Pedro Coveiro havia se transformado numa poça de lama devido as fortes chuvas. Chamaram o Pedro para reabrir a sepultura e ficaram observando o seu trabalho. Foi quando Zé de Júlia, com a voz engrolada, reclamou: — Tá demorando muito. Olhares silenciosos de reprovação foram dirigidos para ele, mas ninguém falou nada. Pedro continuava no seu lento trabalho de tirar a lama que teimava em voltar para a cova. Zé de Júlia perdeu a paciência: — Vamos voltar para o cabaré e acabar de beber o morto, que isso aqui tá muito demorado. Ato seguinte, abandonaram o caixão e foram embora.
No cemitério, ficaram apenas o caixão, o coveiro Pedro, o pastor Maia, alguns poucos familiares e amigos que se dispuseram a permanecer até o sepultamento do Mainha naquela manhã chuvosa do mês festivo de junho da década de 1950 do ano da Graça do Nosso Senhor Jesus Cristo.
*Extraído do livro Purututu Tu Tu Tu, Editora Viva, Maceió, 2015.
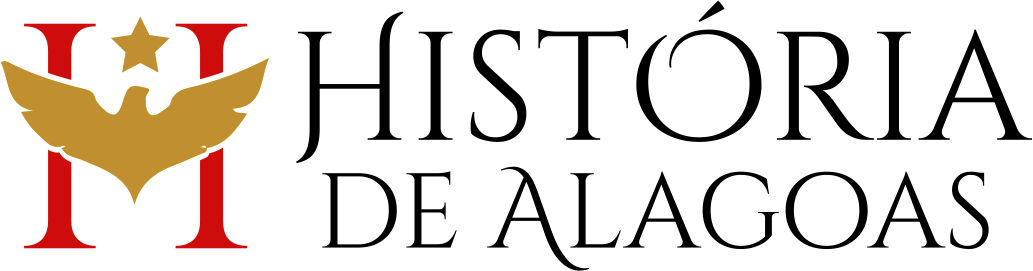

Maravilhoso! Está é a pegada de um contador de “causos”.