Motivos do açúcar no folclore
Publicado originalmente na revista Brasil Açucareiro de novembro de 1947
 Engenho Conceição, São Miguel dos Campos, em 1932
Engenho Conceição, São Miguel dos Campos, em 1932
Manuel Diégues Júnior

Antigo Engenho a Vapor.
Não é pequena a soma de superstições que se podem recolher na área canavieira. Quando os trabalhadores se reúnem” nas suas horas de descanso é comum cada um contar o seu “caso”. De dia, porém, não se contam histórias, principalmente as célebres histórias de Trancoso: quem conta história de dia, cria rabo…
Entre as superstições mais conhecidas em nossa vida rural há uma que se destaca porque se demonstra visivelmente: é a que se traduz na colocação de cabeça de boi, ou caveira de boi, em estacas no canavial ou em outras plantações. Usa-se também enfiar apenas 0 chifre do boi, o que aliás, é mais comumente encontrado. A cabeça de boi ou o chifre defende as plantações e os roçados contra pragas, mau-olhado, mau-tempo, etc. Deve-se-lhe o evitar todas as ameaças contra as plantas.
Esta superstição é igualmente conhecida em Portugal e na África, conforme registra Daniel Gouveia (1). A este respeito o Autor transcreve a referência de Augusto de Carvalho, de acordo com o que colheu em Lunda, onde o chifre espetado numa árvore, tendo em volta o terreno limpo e pisado, uma trepadeira a enlear esta árvore e uma cabaça e panela suspensas em outro tronco, “constituem um monumento dedicado a um ídolo denominado Muata Calombo.”
E é por isso que se vê enchendo a paisagem verde dos canaviais, aqui e ali, uma cabeça de boi, ou apenas o chifre de boi. Também admite-se que a casca de ovo, colocada igualmente sobre estacas, evita mau-olhado. Usa-se do mesmo modo, e principalmente nas plantações de roseiras, craveiros, dálias, etc. De flores, particularmente.

Criança alimentando uma moenda de engenho
Também é usado, nos meios rurais, em casa de caboclo e às vezes em casa de proprietário, a colocação de um pano, a jeito de bandeira, em estaca, perto do galinheiro; isto serve, dizem os entendidos, para afugentar as doenças das galinhas, principalmente o “neném de galinha,” tão comum entre as criações nordestinas.
Se não se podem contar histórias durante o dia, pode-se, entretanto, fazer adivinhas. De dia ou de noite, em qualquer momento de folga, não é raro verem-se os grupos formados tirando adivinhações. Há pessoas especializadas em decifrar os enigmas populares. Uma capacidade rara de acertar.
Informada por Téo Brandão, autorizado conhecedor do folclore alagoano, temos esta adivinha, recolhida por ele no engenho “Salgado” no Pilar
“Verde foi meu nascimento
Por ferros duros passei
Entrei de mar a dentro
Fui à presença do rei.
— Cana.”
Aí está em quatro versos a síntese da cana de açúcar. Todas as suas fases estão caracterizadas na quadra citada, em poucas e felizes palavras. “Verde foi meu nascimento,” é a cana ao colher-se para depois ser levada às moendas do engenho, isto é, “por ferros duros passei.” Feito açúcar é ele exportado: “entrei mar a dentro.” “Fui à presença do rei” exprime o interesse econômico da Coroa na indústria do açúcar. Tudo mostra a antiguidade e igualmente a originalidade dessa adivinha.
Podemos incluí-la no grupo de adivinhas rimadas, da classificação de José Maria de Melo. (2); merece, aliás, uma exegese mais demorada pelo que exprime como símbolo do aproveitamento e da expressão da cana na vida colonial. Lamentamos carecer de espaço para fazê-la; falem a respeito os doutos mais autorizados para a análise exegética.
Outra adivinha referente a cana figura na coletânea de José Maria de Melo que, especializando-se no estudo dos enigmas populares, se tornou segura autoridade no assunto, quer pelo grande material já recolhido, quer pelos estudos de análise e comparação que tem apresentado. Foi por ele divulgada a seguinte:
“Eu fui preso e ajojado
Por ordem de seu tenente;
Vi meu sangue derramado
No meio de tanta gente (3).

Engenho Conceição em São Miguel dos Campos
O próprio folclorista explica o sentido da adivinha – a cana é presa e ajoujada em feixe por ordem do senhor de engenho que aí aparece na qualidade de “seu tenente,” isto é, o que manda; quando esmagada pelas moendas, o caldo que é seu sangue, derrama-se através da bica de madeira para o vaso morto (“vi meu sangue derramado”) o que é feito na presença dos trabalhadores, “tanta gente” da quadra.
Outra adivinha muito conhecida na área açucareira do Nordeste é a seguinte, referente à cachaça:
Que é, que é?
Que pode mais do que Deus?
Esta aparece sempre em qualquer reunião onde se façam adivinhas, e figura entre as recolhidas por Nestor Diógenes no seu interessante Brasil Virgem, onde se inclui também esta outra: “Que é, que é? Tem pé, porém não anda; tem olho, porém não vê; tem junta, porém não se ajoelha; tem cabelo, porém, não se penteia.” E a resposta surge logo: a cana de açúcar (4).
O campo folclórico abrangendo as manifestações do ciclo do açúcar ou do engenho, é muito amplo, e tem-no analisado eruditamente Joaquim Ribeiro em magnífica série de estudos, publicada nesta revista. Nos artigos aqui divulgados ao lado de sua vasta cultura, mostrou o erudito folclorista a exegese desses motivos.
No que diz respeito à poesia popular, encontra-se no ambiente do engenho campo propício para uma vasta colheita. Todos os elementos que constituem o complexo “açúcar” têm merecido as observações populares traduzidas em cantigas, emboladas, cocos; não somente em literatura poética, em versos; também em outras manifestações. Ao gênio do povo, ao seu espírito, nada escapa; e a alma desse povo se manifesta, apresenta-se viva em todos os instantes de existência do complexo do açúcar.

Moradia de trabalhadores rurais de um engenho banguê na região Norte de Alagoas, início do século XX
Como exemplo da poesia popular lembraremos apenas, no meio de um vasto e rico material, a quadra que se segue. Ela é expressiva não apenas pela delicadeza (108 versos), senão também pela ideia que traduz na simplicidade de quatro linhas. Foi buscar a ideia o poeta no papel desempenhado pela cana, ao ser esmagada no engenho, espremida para tornar-se açúcar, mel, rapadura. Ei-la:
Minha viola mais canta
Quanto mais sofro na vida!
Sou como cana de engenho:
Mais doce, mais espremida.
A respeito de lendas, podemos lembrar uma referente à origem do açúcar e da cachaça, que aqui vamos transcrever, segundo a versão divulgada por Alfredo Brandão (5).
“Nosso Senhor Jesus Cristo corria uma vez por uma estrada, fugindo dos judeus. Morria de fome e de sede, debaixo de um solão enorme. Já não aguentava mais de cansaço quando avistou um canavial. Então escondeu-se entre as suas folhas, refrescou do calor, descansou, chupou uns gomos e matou a fome. Ao retirar-se, estendeu as mãos sobre as canas, e as abençoou, prometendo que delas o homem haveria de tirar uma comida boa e doce.
No outro dia, à mesma hora, o diabo saiu das fornalhas do inferno, com os chifres e o rabo queimados. Galopando pela estrada foi dar no mesmo canavial. Vendo o verde das canas, entendeu de refrescar e espojar-se nas folhas. As canas, porém, atiraram-lhe pelos, começando ele a coçar-se.
Furioso, cortou um gomo e começou a chupar; mas o caldo estava azedo e caindo-lhe no goto queimou-lhe as guelas. O diabo então danou-se e prometeu que da cana o homem haveria de tirar uma bebida tão ardente como as caldeiras do inferno.
E é por isso que a cana dá o açúcar, por causa da bênção de Nosso Senhor, e a cachaça, por causa da maldição do diabo.”
Erudito conhecedor das coisas alagoanas, Alfredo Brandão recolheu ainda outras lendas referentes a engenho. É possível que se encontrem lendas semelhantes ou variantes em outras áreas açucareiras; entretanto, não conhecemos, nada tendo encontrado a respeito em trabalhos folclóricos por nós examinados. Outra lenda, sobre o engenho mal-assombrado, pode ser resumida assim, da versão colhida por Alfredo Brandão (6).
“À meia noite, o velho engenho, todo em ruínas, abandonado e esquecido, começa a agitar-se, e por toda parte aparecem vultos fantásticos. Do alto o Senhor do Engenho ordena: Vamos! Comecem o serviço.
E as velhas almanjarras se põem a rodar, e os moleques empoleirados nas almanjarras gritam, acoitando as bestas:
— Curijó, Mangabinha, ei! ei! ei
As moendas se movem, a engrenagem das rodas estala: craque, craque, craque.
Trabalha cantarolando o tombador de canas; os picadeiros se esvaziam; o carregador de bagaços aperta os feixes alvos; o caldo verde e espumoso corre aos gorgolhões pelas bicas.
Na casa de caldeiras o mestre de açúcar fala para a outra banda do assentamento:
— Fornalheiro, ô!
E o fornalheiro responde do outro lado:
— Seu mestre, ô!
E o fogo crepita em baixo das caldeiras e a fumaça vai subindo pelo boeiro; as tachas começam a ferver; o cheiro de mel cozido enche o engenho. Lá fora, na mata, os carros-de-bois cantam vindo dos canaviais; os cambiteiros estalam os chicotes.
Ao longe, no alto da colina a casa-grande alveja ao luar. Debruçada na balaustrada da casa-grande a senhora de engenho cisma.
Mas. quando os galos começam a amiudar o canto. na madrugada, os rumores vão esmaecendo pouco a pouco; e ao clarear do dia, desaparecem. E engenho é outra vez um montão de escombros, silencioso, abandonado, esquecido.”
1) Folclore brasileiro, Rio de Janeiro, 1926.
2) Revista do Instituto Histórico de Alagoas, vol. XXIII. 1944, Maceió.
3) “Adivinhações (Contribuição ao estudo do nosso folclore),” II, artigo na Gazeta de Alagoas. de 25 de dezembro de 1938.
4) Brasil Virgem. Editorial Universal, Recife, 1924.
5) “Os negos na história de Alagoas.” In Estudos Afro-Brasileiros. Ariel. Rio. 1935.
6) Crônicas Alagoanas. Casa Ramalho, Maceió, 1939.
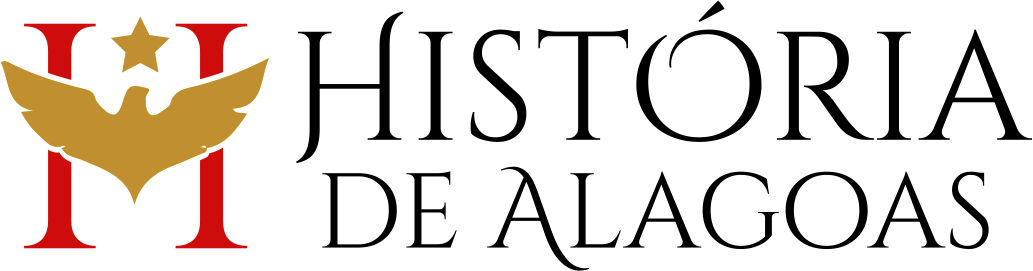

Deixe um comentário