História da implantação do abastecimento de água potável em Maceió I
Primeiros projetos
 Cacimba do Braga em Maceió, na atual Rua Tabajaras, Poço
Cacimba do Braga em Maceió, na atual Rua Tabajaras, Poço
Foi em 1565 que se construiu a primeira fonte para a retirada de água potável no Brasil. O responsável pela obra foi o militar português Estácio de Sá, que se instalou no Rio de janeiro para expulsar os franceses da região da Baía da Guanabara e mandou construir paliçadas, além de um poço para abastecer a cidade que começava a nascer.
O primeiro registro sobre a utilização de água para consumo humano em Maceió remonta a 1640. Segundo José Fernandes de Maya Pedrosa, em Histórias do Velho Jaraguá, isso foi feito por uma tropa holandesa que percorreu o litoral da então capitania de Pernambuco anotando informações sobre a geografia da região para uso militar.
O capitão holandês responsável pela expedição assim descreveu Jaraguá: “Aqui não há água, mas pode-se abrir cacimbas; a água é mais salobra, o pasto sofrível mais um pouco para o interior atrás da mata”.
Essa prática permaneceu sendo utilizada por mais dois séculos na capital: ou se captava a água nos rios, riachos, barreiros e afloramentos (bicas) ou se cavavam poços e cacimbas para retirá-la em melhor qualidade do lençol freático.
Estas mesmas fontes eram utilizadas para banhos, lavar roupas e utensílios domésticos. Também nelas se lavavam animais.
Essa utilização inadequada foi o primeiro problema enfrentado pelos governantes no uso das águas na área urbana, onde se abriam poços para que a população retirasse água potável.
Craveiro Costa registrou no livro Maceió que em 1828 a Câmara Municipal desta vila determinou que “a pessoa que lavasse roupa nas cacimbas de água potável existentes na vargem por detrás da artilharia, se fossem escravos, levariam cinquenta bolos pela primeira vez e cem na segunda, sendo livre, pagaria 1$000, e na reincidência, 2$000”.
Em meados do século XVIII, com a vila de Maceió crescendo e as moradias ficando cada vez mais distante das fontes de água existentes, surgiram os vendedores do líquido, que era transportado diariamente em ancoretas sobre lombo de animais ou carroças até a casa dos consumidores.
Primeiras iniciativas para o encanamento
Quem primeiro propôs que a água potável fosse fornecida aos maceioenses a partir do encanamento das águas do riacho Bebedouro foi o conselheiro Antônio da Silva Lisboa.
Isso ocorreu em outubro de 1826, quando o presidente da Província era interinamente o coronel Wencesláu de Oliveira Bello, que assumiu em 23 de outubro daquele mesmo ano. (Moreno Brandão em O centenário da Emancipação de Alagoas).
O assunto somente voltou a ser abordado em outubro de 1845, quando o presidente da Província, brigadeiro português Henriques Marques de Oliveira Lisboa, defendeu em seu relatório à Assembleia Legislativa o fornecimento em Maceió de água potável “para o uso quotidiano de seus habitantes”.
“A vantagem de uma tal providência é tão palpável e reconhecida, que não receio que ninguém me contradiga. Sou informado, que para obtê-la não será mister grande despesa, sendo fácil encaminhar para a cidade as águas, ou parte das águas do Rio Jacarecica: isto depende porém de ser examinado por um Engenheiro hábil, que apresentando os competente plano e orçamento, vos habilite a decretardes os fundos para a obra tão útil e interessante, que eu muito me vangloriaria, se ela se fizesse, ou pelo menos se começasse no tempo de minha administração”, justificou o governante.
Não foi atendido e se afastou do governo no mês seguinte, precisamente em 10 de novembro de 1845. Mas deixou encaminhado o processo legal para a contratação do serviço.
De fato, a Lei nº 34 de 12 de dezembro de 1845 foi sancionada pelo novo governante, Antônio Manoel de Campos Mello, que assumiu o poder dias antes deste ato.
Foi o próprio Campos Mello quem informou à Assembleia, em 15 de março de 1846, que tinha sancionado a Lei que concedia “o privilégio exclusivo por 30 a 50 anos a um indivíduo ou companhia (nacionais ou estrangeiros) que efetuarem o encanamento do riacho Bebedouro ou Jacarecica, a fim de serem abastecidas d’água esta capital e a povoação de Jaraguá, construindo-se para isso chafarizes nos lugares que no respectivo contrato se designarem”.
Essa licitação foi enviada a “todos os presidentes de Províncias” e quando apresentou o relatório, Campos Mello já tinha recebido uma carta do engenheiro Wautier, residente em Pernambuco e que lá respondia pela chefia do Departamento de Obras daquela província.
Como a elaboração do projeto e do orçamento poderiam demorar, Campos Mello propôs que fosse autorizada a construção de um pequeno chafariz na Cambona, “que sem dúvida fornecerá a água suficiente para o público desta capital, indenizando o proprietário desse terreno na forma da lei”.
“É lástima, senhores, ver os habitantes desta cidade condenados a irem buscar água a distância de uma légua, ou a extraírem-na de pequenos buracos, como fazem os pobres com manifesta ruína da saúde pública”, concluiu.
Um ano depois, no relatório de 15 de março de 1847, o mesmo governante reclamava que até aquela data ninguém tinha se apresentado para realizar a obra, “que por isso tornou-se ilusória“. Devolveu o problema para o poder legislativo dizendo que este deveria, “portanto deliberar novamente a este respeito, e determinar o que em vossa sabedoria julgardes mais convenientes”.
A decepção do governante pode ter sido motivada também por saber que no ano anterior a Companhia Beberibe tinha posto em funcionamento sistema semelhante em Recife. O único investimento do Tesouro Provincial de Pernambuco foi na aquisição de algumas ações da empresa.
Outro decepcionado foi o coronel Antônio Nunes Aguiar, que em março de 1849 anunciou aos deputados que era impossível organizar uma companhia para realizar o encanamento “numa província de escassos recursos, e em que o espírito de associação é quase desconhecido”.
Propôs então que fosse destinado algum investimento “para as explorações do terreno e exames de rios que devem ser encanados, e se quiserdes, habilitareis ao governo a principiar estes trabalhos com parte do saldo existente no Cofre da Província, reservado para a conclusão da obra o que a Tesouraria Provincial tem de receber da Geral, por liquidação de contas”.
Em 14 de julho de 1849 o mesmo Nunes de Aguiar informava que já tinha autorizado a realização dos “exames e estudos prévios para o encanamento do rio Bebedouro, e já se está procedendo ao respectivo nivelamento”. Foi a Lei nº 125 que permitiu esse início de obra.
Estas primeiras ações foram coordenadas pelo 2º tenente do Imperial Corpo de Engenheiros José Carlos de Carvalho. Foi este profissional que também ficou encarregado de apresentar um plano de arruamento para o “aformoseamento” da capital.
Com José Bento da Cunha Figueiredo, que assumiu o governo em 14 de julho de 1849, o projeto tomou novo impulso. Conseguiu criar uma companhia e determinou que dois engenheiros levantassem a planta do sistema de encanamento.
Fizeram estudos no riacho Cardoso e no riacho Luiz da Silva. Optaram por este último por ter sua nascente “superior a Maceió [em] 120 palmos, e que possui água suficiente para abastecer a cidade”.
O engenheiro inspetor orçou a obra em 300 contos, utilizando encanamento de ferro desde a origem. O outro engenheiro, ex-tenente de artilharia do governo da Espanha e Portugal, Antônio Ribeiro Lis Teixeira, calculou o custo em 200 contos. Ele propunha que a água fosse conduzida da nascente até Bebedouro pelas “fraldas dos montes […} por meio de uma escavação ou levada”.
Em Bebedouro se construiria uma caixa de alimentação ou açude de onde partiria o encanamento de cerâmica até a cidade.
Em relatório de 25 de abril de 1851, o próprio José Bento da Cunha Figueiredo também jogou a toalha e admitiu que “no encanamento das águas nada se tem adiantado, bem que ainda exista a Companhia, que para lhe dar impulso fora formada, e me não tenha faltado ardente desejo de fornecer esta cidade de água potável; mas a falta de engenheiro para dar começo a obra tão importante, tem-me obrigado a deferi-la para ocasião mais oportuna”.
José Antônio Saraiva, em 20 de fevereiro de 1854, também se debruçou sobre o projeto avaliando que não tinha recursos para bancar os 200 contos, investidos 120 contos para os tubos e assentamentos, e 80 contos para a caixa d’água, chafarizes e todos os demais trabalhos.
Estimava ainda que faltava uma melhor avaliação sobre a possibilidade da obra ser realizada por uma empresa particular, “sem que lhe concedais uma garantia para o mínimo do juro do capital que for empregado”.
Justificava a avaliação por calcular que a venda da água potável arrecadaria somente 4 contos de réis anualmente, considerando que a “cidade e a povoação de Jaraguá” tinham mil casas “que se abasteceriam de água nos chafarizes, se fosse ela vendida por muito baixo preço”.
“Nenhuma empresa se organizará para ter uma perda séria (pois que 200.000$000 rs., custo provável de encanamento, a juro de um por cento dão o rendimento anual de 24 contos de réis)”.
Segundo sua análise, a Província teria que oferecer uma garantia mínima de 2%, ou seja: 20 contos de réis anuais, “que seria sumamente oneroso e muito prejudicial ao desenvolvimento das forças produtivas da Província”.
Essa falta de recursos nos cofres alagoanos levou os deputados gerais Matheus Casado de Araújo Lima, Silvério Fernandes de Araújo Jorge e Gomes Ribeiro a apresentarem um projeto concedendo recursos provenientes de seis loterias extraídas na corte para o encanamento de água potável de Maceió. Não se sabe se o projeto foi aprovado.
Em março de 1855, o presidente da Província Sá e Albuquerque informou que tinha voltado a considerar o projeto e analisou outras fontes para o fornecimento d’água.
Além do riacho Bebedouro, foram estudadas as opções do rio Jacarecica, rio Fernão Velho e rio Remédio.
O rio Remédio foi descartado por ficar a duas léguas da cidade e exigiria a construção de três largas pontes, aterros e outras dificuldades. Era “uma obra de proporções gigantescas muito superior às forças da Província”.
O rio Fernão Velho recebeu parecer favorável, mas “seria uma fonte, que, na falta de outra mais cômoda e fácil, prestar-se-ia talvez à obra do encanamento”. Ficava também a duas léguas da cidade e tinha “água abundante, límpida e salubre”, além disso os trabalhos de escavações não seriam “invencivelmente pesados e dispendiosos”.
O rio Jacarecica parecia pouco volumoso para suprir a cidade e teria despesas altas. Foi dispensado.
A escolha recaiu sobre o riacho Bebedouro, por já se ter estudos e custos do projeto sobre ele.
Sá e Albuquerque em sua análise revelou que no orçamento realizado pelo engenheiro Francisco Primo de Souza Aguiar, que ficou em 200.000$000 réis, definia-se que seria adquirida por 40.000$000 réis “uma máquina para haurir água no rio e elevá-la à altura conveniente de poder chegar por encanamento à cidade”.
Havia ainda 20.000$000 réis destinados à construção dos chafarizes nas praças.
O governante avaliou que estas duas despesas poderiam ser evitadas considerando a utilização de “um outro braço do rio Bebedouro, diferente daquele de que tratou o engenheiro Primo de Aguiar”, por ser mais elevado, e os chafarizes poderiam ser substituídos por torneiras nas diferentes ruas.
Pela importância dos benefícios trazidos pela obra, o presidente da Província ponderou que o Governo não podia “abandonar a ideia e empregar todos os meios de levá-la a efeito com recursos dos Cofres Provinciais, com o auxílio dos habitantes da Cidade e com as subvenções que podem razoavelmente ser esperadas da generosidade e solicitude com que o Governo Imperial promove a felicidade de todas as Províncias do Império, e desta principalmente”.
No início do ano seguinte, Sá e Albuquerque relatou que tinha pessoalmente explorado o riacho Manoel Alves, “um dos confluentes do rio Bebedouro”, em companhia do major de engenheiros Christiano Pereira de Azeredo Coutinho, que identificou a possibilidade de represá-lo “quase em sua nascença e desta sorte ofereceria água a esta capital independentemente de aparelho para guindá-la”.
Como foi eleito deputado geral pela Província de Pernambuco, Sá e Albuquerque esteve no Rio de Janeiro e lá manteve contatos com o Barão de Mauá. Apresentou a ele a extensão dos canos necessários, cálculo realizado pelo engenheiro Azeredo Coutinho.
A intenção de Sá e Albuquerque era a de adquirir os canos em Niterói, na Fundição e Estaleiros Ponta da Areia, empresa criada em 1844 por Charles Colman e adquirida por Irineu Evangelista de Sousa, futuro Barão de Mauá, em 1846.
Quando soube que a compra ultrapassaria os 160:000$000, julgou “conveniente nada mais fazer” e também devolveu a responsabilidade para os deputados alagoanos, pedindo a eles que encontrassem “outro meio mais econômico de dotar a população desta cidade com boa água potável, cuja falta é tão sentida”.
Primeiro projeto
Finalmente, em 1859 Maceió conheceu o seu primeiro plano para o abastecimento de água potável. A planta e o orçamento foram elaborados pelo coronel de engenheiros Conrado Jacob de Niemayer e previa o aproveitamento das águas do riacho Luiz Silva em Bebedouro, distribuindo-as por vários chafarizes localizados nas praças de Maceió e Jaraguá.
Essa elaboração somente foi possível porque o governo conseguiu aprovar no ano anterior a Lei nº 347 de 22 de junho, autorizando a Província a contrair um empréstimo de 200:000$000 réis para ser utilizado também na construção de uma estrada “ligasse esta capital com o lugar mais próximo em que tiver de passar a via férrea que do Recife segue em direitura ao rio São Francisco”.
Como nenhum governante quis correr riscos tomando dinheiro emprestado e não se conseguiu uma empresa que aceitasse investir neste empreendimento, novamente nada foi feito.
O presidente Souza Gonzaga, em outubro de 1863, assim explicava a falta de investidores: “Deve-se partir do princípio, que os capitães não têm patriotismo. Só se localizam quando são atraídos pela confiança em lucros correspondentes ao serviço que vão prestar, e para imobilizarem-se em obras públicas exigem além da retribuição pelo seu serviço, serem amortizados dentro de um certo prazo”.
Mas a empresa apareceu no início do ano seguinte, como relatou o presidente da Província Roberto Calheiros de Mello em maio de 1864.
A execução da obra foi contratada em 12 de março de 1864 com o engenheiro civil Joaquim Pires Carneiro Monteiro pela quantia de 250:000$000, pagos parceladamente. O custo tinha sido orçado em 235:000$000, mas não incluía os trabalhos de construção.
O empresário receberia 100:000$000 durante a construção. O restante, 150:000$000, em parcelas anuais de 15:000$000 mais 8%, a partir do fim da obra.
Estimava-se que os recursos para o pagamento destas parcelas seriam conseguidos com “a venda da água ou a criação de um imposto sobre as casas, que deverá ser cobrado pela mesma forma e tempo como o imposto de décima urbana”.
As obras foram iniciadas no dia 3 de dezembro de 1864 pelo engenheiro civil Joaquim Pires Carneiro Monteiro, que apresentou melhor proposta que o engenheiro autor do projeto.
Em maio de 1865, o governante João Baptista Gonçalves Campos relatou que encontrou a obra iniciada, “visitei-a e concebi pelo seu progresso e conclusão um vivo interesse, que ainda não arrefeceu”.
A obra, na verdade, foi transferida para o engenheiro André Henrique Wilmer. O mesmo que havia construído sistema similar em Recife. Tinha sido indicado pelo engenheiro Conrado Jacob de Niemayer logo após apresentar seu projeto.
Em abril de 1865, Wilmer solicitou alteração no contrato argumentando que a passagem dos canos por terrenos particulares era de mais fácil execução para ele, porém mais cara, por incluir desapropriações. Indicava a utilização pela “estrada pública”, que também tinha custos adicionais de 57:000$000. Requereu também a prorrogação por mais oito meses do prazo para conclusão.
Propunha também a alteração na bitola dos canos para permitir “haver igual força de suprimento d’água em todos os chafarizes ao mesmo tempo. Isso iria aumentar o custo em 13:365$000 réis.
Por último, suplicava por redução no tempo dos pagamentos, “para evitar ter que pedir dinheiros emprestados a juros, como já tem acontecido”. O aditamento ao contrato foi autorizado pela Resolução nº 465 de 27 de junho de 1865.
Antes, em 16 de julho de 1864, o contrato já tinha sido novamente alterado.
Nova modificação aconteceu em 28 de fevereiro de 1866 e o custo passou a ser de 270:000$000.
Três anos depois de iniciada a obra começou a ser construído o açude em Bebedouro. Para sua execução foi preciso montar uma olaria capaz de produzir os tijolos próprios para obras hidráulicas.
Neste mesmo ano de 1867, a construção da caixa d’água dos Martírios foi retomada. Todo o serviço custou ao governo mais de 300:000$000.
A caixa d’água dos Martírios ficava na rua conhecida como Alto da Saudade. Passou a ser Rua da Caixa d’água, depois José Bonifácio, Gazeta de Alagoas, Dr. José Duarte, Emanoel Pedro Farias Costa. Atualmente surge nos mapas como Rua José Bonifácio. No local desta antiga caixa d’água funciona atualmente o setor de atendimento da Casal.
A fiscalização da obra era realizada inicialmente pelo engenheiro Carlos Mornay. Em 1867 passou também a ser fiscalizada pelo engenheiro Carlos Krauss, que havia sido contratado para projetar as vias de comunicação da província.
Em 16 de maio de 1869, o presidente da Província, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, avaliava que a bitola dos canos não permitiria no futuro a “concessão ampla de ramais particulares sem prejuízo do fornecimento à cidade”. Lembrava que o engenheiro Carlos Mornay havia proposto a adoção de tubos de maior calibre.
Também observava criticamente a existência de somente uma linha de encanamento, o que daria lugar “ao perigo permanente de qualquer interrupção no caso de avaria”. Demonstrava preocupações com a necessidade de tempos depois ter que instalar outra linha com custos imensamente maiores. Se fossem feitas simultaneamente “aproveitariam quase o mesmo trabalho de escavação”.
Não considerava a escolha mais “feliz” o sistema de caixa d’água de ferro e os modelos de chafarizes, “que pecam contra as regras da mais modesta elegância”.
Anunciou então que, com brevidade, publicaria o regulamento sobre a venda e concessão de penas d’água, mas adiantou que preferia indenizar quem cedeu terreno para a passagem dos tubos ou instalação da caixa d’água que conceder gratuitamente uma pena d’água a cada um deles.
A normatização do serviço de fornecimento d’água nos chafarizes e a concessão de ramais particulares foi publicada em 13 maio de 1869.
Para garantir o seu funcionamento, foram nomeados dois administradores, um do campo e outro da cidade. Foram construídas ainda as guaritas para os cobradores e duas casas para residências dos guardas e depósito ao lado do açude na nascente do Riacho Silva e da caixa d’água dos Martírios.
Em 16 de março de 1870, o mesmo presidente da Província, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, voltou a lembrar das críticas ao projeto e do envolvimento do engenheiro Carlos Mornay na tentativa de melhorar o sistema — apresentou parecer em 21 de junho de 1869 —, cita que naquela data “já então corriam as águas livremente pelos chafarizes da cidade”.
Informou que no início notava-se que a água tinha cor amarelada e mau sabor, mas que isso era atribuído ao tempo em que a água ficou parada nas tubulações e por serem os canos muito novos.
Quando ia autorizar o fornecimento regular, soube que seria indispensável a utilização de filtros para tornar a água potável. Nomeou uma comissão para tratar do problema e foi então proposto o esgotamento do açude.
O empresário que tocava a obra se posicionou contra esse esgotamento, argumentando poderia danificar aquele reservatório. Surgiu então a polêmica sobre a “solidez do marachão”. Foi feita a limpeza e verificou-se que “não havia ruínas e que, quanto as obras de alvenaria, o empresário fez mais do que era exigido pelo contrato”.
Quanto ao paredão do açude, o engenheiro fiscal avaliou que o alicerce deveria ter sido mais profundo, mas o governante isentou o empresário de culpa, que apenas executou o plano aprovado.
Para resolver o problema da qualidade da água, Bento Júnior enviou uma amostra ao engenheiro Octaviano da Rocha no Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
O resultado apontou que água era ruim, não por receber partículas ferruginosas dos canos, mas por estar recebendo dos terrenos que serviam de leito para as águas represadas a decomposição permanente de matérias orgânicas vegetais e animais.
Orientou o engenheiro que no lugar de filtros seria preferível “prolongar o atual encanamento na extensão de dois quilômetros até encontrar os dois braços que alimentam o riacho Luiz da Silva, e que deverão confluir em lugar próximo às suas nascenças, fazendo-se ali uma represa, além do reservatório em caixa especial, contigua ao açude, para entreter o fornecimento à cidade, elevando-se o nível das águas, cuja pressão desta sorte aumentará”. Estas obras foram orçadas em 134:380$400.
Quanto ao açude já construído, poderia ser aproveitado por alguma fábrica.
Bento Júnior informou também que havia anunciado a venda da empresa e que se fosse encontrado um comprador, “pouparia a Província um novo sacrifício, assim como os trabalhos e despesas de custeamento”.
A Assembleia Legislativa concordou com esta opção e baixou uma Resolução, em 19 de maio de 1870, autorizando a venda da empresa por 150:000$000.
Em julho de 1871, Bento Júnior informava que havia realizado “os trabalhos de encanamentos para o jardim da Praça de Santa Maria em Jaraguá, ficando assentado o chafariz junto à ponte de desembarque”. Esta praça é atualmente a Praça 18 do Forte de Copacabana, nos fundos do MISA.
Calculava-se que o abastecimento dos navios a partir deste terminal poderia render anualmente 1:000$000 réis. Um interessado em explorar este serviço, William Hoyle, ofereceu ao governo 400$000 por ano para ter o controle desse chafariz. A proposta foi recusada.
O presidente da Província, Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, em 7 de fevereiro de 1872, se referia a instalação do encanamento como “esta infeliz obra, que tem custado à província a quantia de 271:017$520, precisa de grande melhoramento, para que se preste ao fim a que foi destinada”
Quem apresentou proposta para realizar os melhoramentos foi o engenheiro Hugh Wilson, que estava em Alagoas investindo na rede ferroviária. Ele orçou os custos em não menos que 100:000$000 réis.
(Continua AQUI)
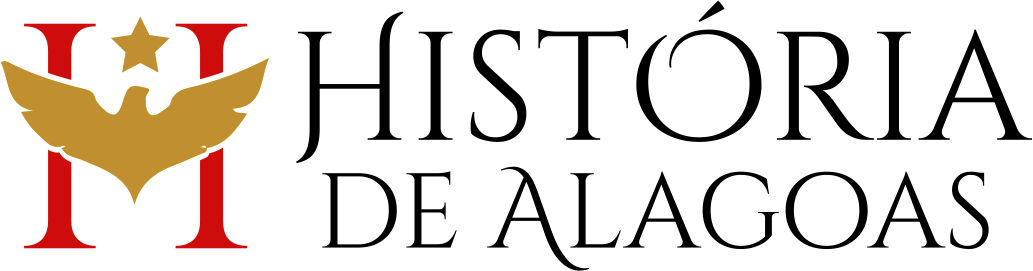
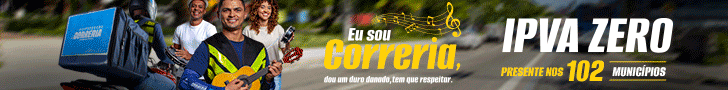




Trabalho histórico da maior importância para a saúde pública e para a vida das pessoas. Parabéns
Boa matéria!
Realmente um resgate valioso da história do abastecimento de água de Maceió, com muitos detalhes!