Pilar, estância da saudade de Romeu de Avelar
 Feira e Mercado da Farinha no Pilar, Alagoas
Feira e Mercado da Farinha no Pilar, Alagoas

Romeu de Avelar em sua biblioteca
Romeu de Avelar
Foi no último domingo de dezembro, de sol gritante e de céu lavado pelas derradeiras chuvas anunciadoras de larga messe de cajus e mangas, que a saudade me impeliu até à cidadezinha do Pilar. Pilar é uma constante romântica, um viveiro de saltitantes recordações de minha meninice.
O automóvel, deixando a embaladora estrada asfaltada, que as mãos práticas dos sôfregos americanos — que por aqui se demoraram “vendo fantasmas” — nos presentearam, já tinha tomado pela enrugada via de massapé, disfarçada com pedrinhas de rio a imitar piçarra, e meu espírito vestia a sua “toilette” sentimental para receber as súbitas e doces impressões dessa viagem tão cara ao meu encruado romantismo.
A minha sensibilidade romanesca não queria perder os menores aspectos cosmorâmicos das paisagens, que corriam multiplicando-se na minha retina. O Tabuleiro do Martins, lá ficara para trás — arremedo de vilório bordando a margem da grande estrada e preparando-se para um futuro bairro maceioense. A aluvião de poeira, todavia, com que a má estrada nos castigava os olhos e pulmões, sempre que qualquer veículo nos ganhava a frente, impedia-me de fruir os lances mais extasiantes do itinerário. Até antes, porém, da arriscada descida da ladeira de Satuba, a paisagem não merecia louvores: era quase uma só chã adusta, de capoeiras enfezadas e aricuris deplumados pela fúria da indústria doméstica de chapéus, bolsas e abanos.

Romeu de avelar nasceu em São Miguel dos Campos
Não fora a sensação desagradável que nos deixara a “montanha russa”, que é a ladeira de Satuba — ainda sem anteparos nos despenhadeiros que a acompanham até o lamaçal crônico do Catolé — o declive seria a mais atraente janela aberta a um dos mais enfeitiçantes panoramas da nossa terra. Para quem é armado de sangue frio, dali descortina um rasgado e surpreendente horizonte, movimentado por um turbilhão de cores luzes, linhas e relevos. De improviso, surgira a torrezinha triste e branca da ermida de Pedreiras, medrosamente trepada no cocuruto de um alcantil; mais a baixo, o vale prolongava-se a perder de vista, transbordante de fertilidade, e, aqui e além fugitivas manchas de telheiros coloridos como roupa de Arlequin.
Lá longe, quase se confundindo com o céu, os dois vultos modestos das igrejinhas de Coqueiro Seco e de Santa Luzia do Norte miravam-se nas águas reluzentes e inquietantes da lagoa do Norte. Vencida a ladeira perigosa, já normalizado o ritmo da sístole e diástole, o coração alegrava-se ao deixar a garganta da estrada do Catolezinho — braço espúrio do Catolé Grande — onde uma verdadeira colônia de nudismo caboclo, constituída de homens e meninos, lavadores de caminhões e de cavalos, se plantavam, paradisicamente, à margem da estrada, para ver os automóveis que trafegavam, não raro conduzindo famílias.
Ao longo da rodagem, trabalhadores de calças arregaçadas raspavam, com pás, ou escorregavam indolentemente as picaretas pelas bordas dos barrancos, para reparos superficiais nos camaleões criados pelas rodas dos veículos e as patas dos cavalos, na época das chuvas.

Delorizano, irmão de Romeu de Avelar, sua esposa Jandira e a filha Liane
Do lado direito, tomava todo o baixo horizonte um belo pano de paisagem alegre e repousante: altivas palmeiras imperiais arrematavam artisticamente uma cenografia colonial, rodeando a casagrande do velho engenho Rocha — feudo histórico das abastadas famílias Vandesmé e Machado. À primeira curva, sombras densas de jaqueiras e mangueiras seculares, dos sítios fatiados pela rodagem, anunciavam a aproximação do povoadozinho de Satuba.
Satuba é um burgo que estacionou, apesar de antigo e memorável, encruando-se em sua dúzia de casas, que se sucedem imitando rua — quando esta, de fato, é a continuação da estrada de rodagem. Atravessando a linha férrea, onde antigamente os passageiros se apeiavam do trem que vinha da capital, para tomarem a montaria que os conduziriam ao Pilar e a engenhos adjacentes, começamos a rodar sobre o elevado aterro na imensa várzea de Satuba, cortada em vários pontos pelo rio do mesmo nome, já avarento naquele tórrido verão, e onde uma moderna ponte de cimento armado ligava as duas extremidades, que antes de 1925 eram vencidas a canoas e a balsas.
A ponte, que aliás já se achava bastante cintada e exigindo vistoria técnica, fora ameaçada de ser destruída por um grupo de delirantes revolucionários de 30 (de tão nefasta presença em Alagoas), que não conseguindo o intento vandálico, rasparam e pixaram o nome do Governador que a mandara construir. Coisas das revoluções no Brasil…
Na outra sua extremidade, a estrada seguia contornando a pitoresca vivenda do dr. Mário Lobo, com sua capelinha modesta e solitária, encastoada numa suave colina. Mais um pouco acima ficavam os Gregórios — recanto pitoresco, escondido num fundo de grota de águas claras e gorgolejantes, tão famoso e procurado no tempo do velho Cortez.

Largo da Matriz do Pìlar antes da construção da praça no início do século XX
O tabuleiro do Pilar, outrora perigoso valhacouto de bandidos, era um fatigado chão desértico, de cajueiros bravos e macegas.
A ladeira que conduzia à cidadezinha do Pilar era mais um arranjo apressado da engenharia municipal. O automóvel descia, segurando todos os freios. Lá embaixo a lagoa faiscava como se fosse de prata móvel. Desatavam-se horizontes lacustres encantadores, à medida que deixávamos para trás as cercanias que contornam os engenhos Grajau-de-Cima e Grajau-de-Baixo, no meio do vale verde, onde pastavam manadas. Novos aspectos nos surgiam, como num cosmorama: eram coqueiros longuíssimos e esbracejantes, vestutos telheiros cobertos de limo, ora manchas d’águas mortas, que apareciam e fugiam por entre os cerrados das franças. No término da ladeira, reconheci, com súbita emoção, o Alto do Urubu, onde eu e Nilo Ramos — o malogrado poeta pilarense que tão cedo nos deixou — ambos crianças, empinávamos “papagaios”, “índios” e “corujões” — os mais orgulhosos e mais altos daquela redondeza.
As torres das igrejas do Rosário e de São Benedito espiavam, abelhudas, por cima dos barrancos, vencendo uma verdadeira preamar de telhados, onde cresciam e floresciam plantas espontâneas, lembrando jardins pobres e aéreos. O Beco do José Pequeno transformara-se numa ruazinha pedante, calçada e inteiramente edificada. Nos meus verdes anos, era apenas uma atrativa tapera de muçambes e “cabeça-de-frade”, onde eu e Delorizano, o querido irmão que também cedo partiu, passávamos as tardes brincando de “se esconder”, ou aprisionando insetos em caixas de fósforos.

Rua Pernambuco Novo no Pilar
A casa em que morávamos parecera-me mais modesta, justamente para o homem feito e viajado que a via após tantos anos. Tive desejo romântico e quase impetuoso de pedir licença aos seus moradores atuais e ir até a sala de jantar, onde minha mãe, com um prato de pirão mexido e um ovo aferventado, acompanhava-me, pacientemente, quando eu corria até a porta da cozinha, toda vez que o tirador de cocos do sítio de “seu Américo” — que ficava nos fundos da nossa casa — derrubava uma cachada.
Atravessada a praça, lá estava a segunda rua da minha infância, a mais saudosa talvez — a rua das Flores. O riacho, sujo e fervilhante de paturis grasnadores e vorazes, de onde eu, de cima da ponte, atirava-lhes pedras, agora passava anonimamente por debaixo da rua. Ainda estava de pé o velho teatro, orgulho dos antigos pilarenses, em que tantas vezes ajudei os atores a pintar cartazes. Ironia, porém, do progresso: estava transformado em cadeia pública.
E fui andando sonambulicamente, arrastado e guiado pelos fantasmas das recordações. A chácara do velho Cavaquinho —paraíso vedado aos olhos do menino pobre — ainda conservava o seu ar de mistério. com a sua rija cerca de maria-preta, toda enfeitada de melão-são-caetano, e lá dentro o pomar de sombras densas, onde ainda se ouvia o gorgolejar soturno de águas subterrâneas.

Cadeia do Pilar, antigo Teatro
A casa da rua das Flores estava completamente remodelada. Sumira a velha escada carcomida do oitão. Só o meu cajueiro ainda forrava o chão com a sua larga e cheirosa saia de ramos e maturís, como antigamente. E como tinham crescido aqueles coqueiros do fundo do quintal! Outrora, com mão de criança, eu arrancava talos de suas palhas, para laçar as lagartixas vadias.
Era naquele bequinho, que ficava um pouco abaixo da minha rua, que eu me juntava com os filhos das lavadeiras, para jogar castanhas ou pescar piabas com urupemas no corregozinho que ainda corre por entre os dentes das cercas dos sombrios quintais.
Cheguei ansiando, não de cansaço, mas de larga emoção, ao alto do Silvano. A casa dos irmãos Arroxelas estava ainda de pé, com o seu alpendre rústico e a sua calçada de pedras. Naquela sala de frente armávamos o nosso teatrinho. Sim, nós também fomos atores. Os dramas e comédias não eram escritos, mas vividos e improvisados por nós mesmos, na hora. E lembro-me bem que representávamos com alma e éramos aplaudidos por grandes e pequenos.
Na rua Pernambuco Novo, por mais que sondasse e vexasse a memória, não pude por em ordem as minhas primeiras lembranças: não consegui localizar a casa onde, logo que deixei São Miguel dos Campos, aos quatro anos, fui residir. Todavia, reconheci, como se ainda fora menino, o outeiro, que se erguia atrás de nossa casa, todo cortado de caminhos para a sua ascensão, por onde meu irmão mais velho me conduzia, num carro de caixão de querosene, para comprar leite para os seus xexéus e sabiás.
Subi o morrozinho, antigamente tão longo e tão íngreme, e surpreendi-me dentro do Cemitério. Túmulos abandonados, engolidos pelo mato ruim, cruzes pendidas, outras sustentando nos braços uma piedosa coroa de flores ainda frescas, a assinalar a visita recente de uma dor e de uma saudade. Por todos os lados ossaria humana aflorando à terra, certamente revolvida para dar lugar a outros inquilinos, numa ironia branca e sinistra de tampas de crânios, de tíbias e falanges. Onde estaria a catacumba de Dulce, a boa irmã e doce companheira de infância, que aqui chegara uma tarde, fulminada por um golpe de ar, quando abria a porta da rua para chamar “seu Julião”, um preto vendedor de frutas? E a do poeta louco Adelino Nunes? E a cova pobre do coveiro “Zé Besta”, que me fazia medo, arreganhando os dentes podres e enormes? E a do aleijadinho que vivia num carro na ponte, e que morrera de sarampo? E a daquele moço que disparara um tiro no peito, e que assisti a sua morte dentro de uma rede?
Tudo apagado na lousa do tempo.
Um anum, soltando pios pungentes, viera pousar na jarra de um túmulo. Um vento monótono varria a poeira gorda do campo santo, fazendo guizalhar as perpétuas ressequidas das coroas. O cemitério tornara-se como que mais vazio, mas lúgubre. Entardecia.
Então, evadi-me dali, como a criança que se surpreende diante de uma floresta e vê cair a noite.
*Publicado originalmente na Revista da Academia Alagoana de Letras, nº 14, de 1988. Título original: Pilar, estância da saudade.
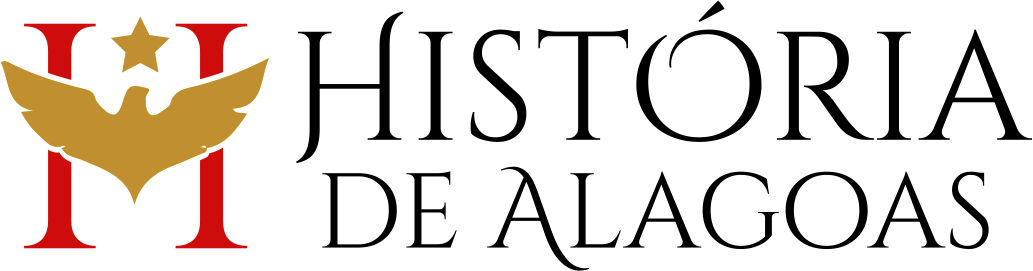

Muito bonito o texto onde meu avô fala de sua infância no Pilar. Aliás, onde é o Pilar? Fica próximo de Maceió? É um vilarejo?
Outra pergunta: Este texto foi publicado em 1988 , na Revista Alagoana de Letras. Mas onde foi publicado primeiro?? Pergunto porque em 1988 meu avô, Romeu, já havia falecido há uns 15 anos…
Obrigada por republicar o belo texto no Site HIstória de Alagoas, Ticianeli!
Encantador ! Queria eu , engenheiro de varias jornadas ter conhecido Romeu de Avelar e com ele recordar os caminhos que percorri , primeiro o que me levava a São Luiz do Quitunde onde meu pai era Senhor de Engenho ainda moendo e segundo pelas inúmeras estradas que ajudamos a construir ! Diz o adágio que recordar é viver e assim vivo sempre como Romeu e você prezado narrador das muitas historis da nossa Alagoas !
Isabela, lamentavelmente a Revista do IHGAL não indica a origem da crônica. Mas vou tentar descobrir.