Uma cultura em questão: a alagoana
O historiador Dirceu Lindoso, que deu à Guerra dos Cabanos sua dimensão revolucionária, fala dos nossos desejos e bloqueios ancestrais e de nossa ambígua identidade
 Historiador Dirceu Lindoso
Historiador Dirceu Lindoso
Entrevista publicada originalmente na revista Urupema nº 1 de dezembro de 2006.
Por Jorge Barboza
Um historiador excepcional, diferente dos demais, com seus precursores, é claro, pois que Alagoas sempre foi uma terra observada, estudada, cobiçada, e amada, tanto por seus “donos” e governantes como por seus intelectuais e artistas.
Historiador astuto e profundo, antropólogo arguto, incansável. Dirceu Accioly Lindoso, 74 anos, nascido em Maragogi (a 128 km de Maceió), constrói neste estado e neste país uma obra monumental, que vai ao encontro de nossas origens e motivações, que é a história em si, a sequência dos acontecimentos em suas respectivas locações e durações, e suas correlações com a política, com a geografia e a topografia, e a interpretação que se faz disso tudo, os instrumentos que se usa para isso etc., enfim, Dirceu Lindoso é um mestre desse negócio todo.
Entrevistamos Lindoso em seu apartamento no bairro de Ponta Verde, num misto de investigação e reverência. A conversa contou com a colaboração de um historiador da nova geração, Geraldo de Majella, discípulo e guardião, por assim dizer, da obra do mestre. Confira.
***
Professor, foram relançados diversos livros seus, e há dois lançamentos pela editora do estado, “Marená, um Jardim na Selva” e “As Invenções da Escrita”. Bem, isso coloca o senhor novamente na pauta de discussões.
O “As Invenções da Escrita”, que é um estudo sobre o imaginário na História, os originais se perderam, ficaram 21 anos perdidos. Cismei que esse livro devia estar em Minas Gerais, numa casa de campo desse menino meu aí, que ele tem. Então minha mulher foi ao Rio visitar a mãe dela e disse, “eu vou a Minas Gerais”. Chegou lá e na primeira sacola que encontraram o livro estava lá, “está aqui, o livro do Dirceu”, ela disse, tudo guardadinho dentro de um plástico, não tinha rompido nadinha.
21 anos… Datilografados?
Datilografados! Aí eu rebati aqui. Foi quando os Boias [os irmãos Jailson e Jurandir Boia Rocha] pediram o livro, além desse outro trabalho, “Marená”, para lançarem pela editora do estado. “Marená” é sobre as expedições alemãs ao Xingu; a primeira parte é a história de um sertanista alagoano, que é o Antônio Cotrim Soares, que foi trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios e acabou sendo um dos fundadores, com as ideias que ele desenvolveu, da Funai.
Sobre os etnólogos alemães, que fizeram estudos naquela região, eu conheci os livros deles todos, e, também, quando estive na Alemanha, em alguns lugares, vi parte dos arquivos deles, que eu pensei que a Guerra tinha acabado, mas não acabou; eles guardaram tudo, está tudo lá. Aí escrevi esse livro, e foi um rolo para editá-lo.
Depois eu fui para Maragogi, pedi um cabra para bater [digitar], o cabra não queria bater eu tive de comprar um computador (risos), aprender a bater em computador. Depois dessa encrenca todinha é que saiu o livro, saiu até bem editado, não foi? Eu estou achando uma beleza a gráfica oficial do estado, porque no meu tempo não era aquilo não; era uma porcaria, rapaz, não sabiam editar, não entendiam nada de revisão. Faziam curso lá no Rio de Janeiro, na gráfica federal e vinham já com um esquema pronto para fazer o livro da gente. Saía com uma distância imensa; aquilo era um treinamento para fazer ofício. Mas, enfim, os livros estão aí.
E quanto “As Invenções da Escrita”?
É um estudo de Antropologia na História, sobre a origem da nacionalidade no México e no Brasil.
Falando em computador, o senhor navega na internet, faz pesquisa?
Não, só faço escrever. Meu menino é que navega em tudo. Para minha idade, 74 anos, aprender esse negócio, agora… Aquilo tudo é matemática, é fácil, mas a gente, com o costume de escrever à mão, à máquina datilográfica. Hoje escrevo rápido no computador, é a minha sorte. Mas o computador de vez em quando dá uma encrencada.
Mas o senhor tem o cuidado de passar tudo para o CD, arquivar?
Sim, porque senão perde.
Bem, mudando de assunto, há algumas questões que o senhor pode responder, por exemplo: como chegamos até aqui, qual é o nosso mote histórico?
Eu na realidade vivi aqui pouco tempo. Nasci a 6 km da divisa do estado de Pernambuco [Maragogi] e perto de uma cidade que era cabeça de uma estrada de ferro, que é Barreiros do Una. Por isso, minha vida toda foi mais para o lado de Recife; estudava nos colégios de lá que os meus primos, missionários da igreja fundaram, que eram os Colégio Americano Batista, depois o Colégio 15 de Novembro, em Garanhuns [PE], e depois voltei.
Fiz o curso aqui no Colégio Estadual de Alagoas, depois fui para Recife, terminei no Colégio Carneiro Leão, e depois voltei e me formei em Direito na velha Faculdade, a Jaqueira, aqui em Maceió.
É um negócio assim: estava num canto, estava num outro; eu vim lá da fronteira, não havia, de lá, estrada diretamente para Maceió. A gente vinha pela estrada da praia, entre coqueiros, seguindo a beira do mar. Essa estrada nova foi Afrânio Lages [1911-1990] que, quando era governador, construiu. Botou o dedo em cima e ele mesmo desenhou, fez a estrada que está aí. A minha história aqui em Maceió começa quando vim estudar Direito.
Tinha quantos anos? Eu já era homem, tinha 22 anos, que nada, 21 anos! Vim para cá estudar e aí começa minha vida aqui. Passei cinco anos aqui, vivendo em Maceió.
Quando surge seu interesse por História e Antropologia?
O meu interesse quem despertou, pela História de Alagoas, a partir daqui, foi Abelardo Duarte; era meu professor de Geografia no Colégio Estadual. Foi uma pessoa muito boa para mim. Era um homem rígido, cheio de preconceitos, aquela seriedade que o Abelardo tinha. Mas era um folclorista, um médico que estudou na Escola de Medicina da Bahia, em Salvador, era um daqueles médicos “baianos” como a gente chamava aqui.
Ele, o pessoal da família do Téo [o governador Teotônio Vilela Filho], aquele pessoal todinho estudava na Bahia. E Abelardo me abriu o arquivo do Instituto Histórico para eu fazer pesquisa. Foi muito bom. Eu aprendi a fazer pesquisa justamente aí, aqui em Alagoas.
Agora, essa visão que eu tenho, nova, da História das Alagoas, é uma visão da minha formação posterior. Primeiro, eu estudei em colégios americanos, e naquele tempo os colégios americanos eram os melhores colégios do Brasil, tanto aqui como no Rio de Janeiro, como em todo lugar. Era um negócio bom, eu não sei como se deixa isso se perder. Depois, os Estados Unidos, com a Guerra do Vietnã, não sei o quê, esqueceram desse negócio, o investimento não vinha mais para a educação. Mas naquele tempo vinha, era uma beleza.
Tínhamos bons professores e eles tinham muito cuidado com a educação da gente; era perfeito, missionário mesmo. Essa formação minha eu tive nesse colégio que foi o pessoal da minha família que fundou, os Lindosos e os Mongubas, foram eles que fundaram: o Colégio Americano Batista do Rio de Janeiro, o Americano Batista daqui, o Colégio Americano Batista do Recife, onde estudou Gilberto Freyre e Ariano Suassuna.
Eles eram missionários e tinham estudado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos; todos eles eram formados lá. Então tinham uma bagagem intelectual muito boa e, naquela época, do começo da Segunda Guerra Mundial até 1945, isso era algo muito importante.
Eu tinha bons professores para consultar. Quando estudava no Recife, ia muito à Biblioteca da Faculdade de Direito, que era a melhor de lá; pesquisava no Arquivo Histórico de Pernambuco, uma beleza, fazia minhas pesquisas, minhas leituras lá no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco. Então, deu para ter uma formação muito boa.
Quando vim para cá, eu já tinha essa formação. Beroaldo Maia Gomes [engenheiro, ex-professor da Ufal) tem razão: disse que eu não aprendi nada lá no Rio porque eu já sabia tudo aqui, por causa dessa coisa que eu tive. Os meus primos são protestantes calvinistas, mas têm uma boa formação intelectual. O protestante americano não é o protestante daqui, que vive dando grito no pé do ouvido dos outros. Lá não, nos Estados Unidos o protestantismo é outra coisa.
Foi aí que descobri a antropologia norte-americana. Para mim, foi muito importante ter descoberto a obra do Morgan [Lewis Henry Morgan, 1818-1881], fundador da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, que foi quem fundou a antropologia moderna, com todo sistema classificatório que ele descobriu, mundialmente. Isso aí me deu uma base muito boa.
O meu avô também tinha uma base muito boa; isso igualmente facilitou. Um dos irmãos mais velhos, que era meu tio-avô, estudou na Inglaterra, e todos eles, meus tios-avôs, estudaram na Inglaterra, tinham uma formação muito boa; iam lá, se formavam.
Eu acho que, na minha história, tive muitas oportunidades, e eu aproveitei muitas dessas oportunidades. Mesmo quando vim para cá, que entrei no Partido Comunista Brasileiro, havia sempre um respeito com relação a mim por causa dessa formação que eu tinha.
Depois a coisa degringolou; depois foi a ditadura militar, foi aquele horror, 21 anos de horror no Brasil. Mas enquanto deu, eu aproveitei bem; tive uma formação boa, eu não posso reclamar.
E quanto a História de Alagoas.
Bom, eu comecei a estudar a História de Alagoas por um ponto que os daqui não quiseram saber, que foi a Guerra dos Cabanos.
Eu sou da região, minha família lutou a favor dos cabanos e contra os cabanos ela se dividiu. Eu conheci a história dos cabanos contada por meu avô, Lourenço Accioly Wanderley, os Wanderley de Porto de Pedras.
Meu avô Wanderley era quem me contava essas histórias todinhas, e o meu avô paterno, Alexandrino Lindoso, também o pai dele tinha engenhos no município de Maragogi, quer dizer, onde é hoje Maragogi. Então eu comecei a estudar história de Alagoas vendo que absurdo era aquele que diziam aqui sobre a Guerra dos Cabanos. Só tinha desaforo, bandidagem, uma grande falta de respeito pelos cabanos.
Tratavam-na como história policial…
É, porque eles não perdoam nunca que os cabanos vieram aqui, entraram por Bebedouro, debaixo de bala, e ocuparam Maceió ocuparam Maceió durante três horas. Botou o presidente da província para correr. Ele ficou num navio em alto mar, foi a maior humilhação.
Isso ocorreu durante três horas?
Durante três horas tomaram o Consulado Inglês, o Consulado Inglês, tomaram na marra! Então isso ficou marcado neles. A intelectualidade alagoana tem uma influência muito grande de Maceió, porque é aquele negócio de que, quando a cidade de Alagoas deixou de ser a capital e Maceió tornou-se capital, as cidades centrais todas se formaram em torno de Maceió. Mesmo cidades antigas, como Anadia e outras, porque de Anadia saiu um bando de coisas: Chã Preta… Saiu Mar Vermelho, saiu Palmeira dos índios, saiu Marimbondo…
Geraldo de Majella – Pindoba… (Risos)
Pindoba, Arapiraca, tudo saiu de Anadia! Havia duas cidades importantes, a cidade de Alagoas, cidade de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, e a cidade de Anadia. De Anadia saíram Limoeiro, Junqueiro, saiu tudo. Então criaram essa ideologia contra um movimento que foi o mais popular que Alagoas teve. Foram 18 anos de guerra que os caras querem deixar em quatro anos. Como, se com 18 anos de guerra ainda tinha gente morrendo? Quando eu escrevi aquele livro, na verdade, eu fiz uma revisão da História de Alagoas. A novidade vem daí.
O livro é de 1985. Foi seu primeiro, digamos, esforço literário?
A primeira edição é de 1985, sim. Mas o meu primeiro esforço literário foi um romance.
Ah, sim, “Póvoa-Mundo” [1981].
É, que pega a história do cabano pelo lado da praia. Mas depois eu escrevi o livro de História mesmo. Escrevi-o em dez meses, trancado no primeiro andar da minha casa lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Dez meses, eu terminei de escrever o livro; tem mais de 30 anos de pesquisa!
O senhor é natural da cidade mais antiga de Alagoas?
Não, Maragogi não é tão antiga.
Não é Porto Calvo?
Sim, porque Maragogi era Porto Calvo, era a praia de Porto Calvo. Na época do cabano, Maragogi só tinha três palhoças de pescadores, não tinha mais do que isso. Depois da guerra, o pessoal de Porto de Pedras foi para lá e Maragogi começou a crescer. Porto de Pedras é uma das cidades mais antigas, do fim do século 16. Os dois centros de colonização de Alagoas foi Penedo e Porto Calvo.
Levando em consideração nossas origens e levando em conta, também, a Guerra dos Cabanos, afinal somos uma gente conservadora ou, ao contrário, somos combatentes, revolucionários?
Olha, eu acho que o problema do conservadorismo alagoano é um negócio meio encrencado. Eu vou dizer porquê. Alagoas é o sul de Pernambuco, não é? Pernambuco ia do Rio São Francisco até onde é hoje a fronteira de Pernambuco com a Paraíba terminava um pouco antes porque tinha a capitania de Itamaracá.
Então Alagoas era o sul de Pernambuco. A coisa que nenhum historiador tinha notado é um fato muito simples: que Alagoas não teria surgido se não tivesse a guerra dos bárbaros no Sertão e a destruição do Quilombo dos Palmares. São dois fatos sem os quais Alagoas não teria surgido.
Quando os colonos chegaram aqui e entraram no sertão do Nordeste, os índios tapuias-cariris iam descendo em migrações deles mesmos e se chocaram com a frente dos currais de bois. E os paulistas empurravam os currais de bois para dentro dessa região. Aí houve a guerra, estourou a guerra mesmo, em que os currais de bois começaram a dizimar as tribos cariris, tapuias-cariris.
Quando os currais de boi tiveram a vitória e conquistaram o Sertão, que é hoje o sertão que vai de Minas Gerais até o Piauí, quando isso aconteceu, formou-se o grande sertão do interior. Aí, a parte do Sertão estava resolvida, a ocupação do Sertão.
Mas tinha um problema seríssimo que se formou durante o século 17, que foi a criação do Quilombo dos Palmares. De repente, começa o lado mais rico da colônia portuguesa, do Brasil, que era a região de Pernambuco, a mais rica, a ter uma concentração de negros fugidos que nunca em nenhum outro lugar teve, entre 25 mil e 30 mil negros fugidos.
Era uma carga de gente que ocupava as terras mais ricas do sul de Pernambuco, que eram as matas úmidas da cabeceira de Porto Calvo, da Alagoas do Norte, da Alagoas do Sul, cabeceira de Porto Calvo, Quipapá, Cucaú e Serinhaém.
É um negócio! Eu fui ver, recentemente, nuns documentos, que extensão tinha a cerca real de Serinhaém: a cerca real de Serinhaém tinha 8 km de extensão! Isso é que era cerca, 8 km, de Maragogi ao Rio Una, era a cerca que guarnecia o Quilombo de Cucaú e o Quilombo de Quipapá.
Então, como fazer? Aí foi quando eles formaram o que chamaram de Grande Empresa. Conseguiram dinheiro público, conseguiram dinheiro da burguesia do Porto da cidade do Porto de Portugal, e dinheiro dos engenhos de açúcar, das vilas e dos distritos que existiam nessa região toda. E fizeram uma empresa gigantesca, armada, que destruiu o Quilombo dos Palmares.
Aí, sim, quando a terra foi liberada foram dadas as sesmarias; todo colono rico começou a receber. O rei tinha muito cuidado na distribuição das terras, porque ele não ia dar as terras que eram dele as matas todas de Alagoas pertenciam ao rei de Portugal, pessoalmente, dele. Isso aí é difícil. Então o rei mandava que desse sesmarias, incentivou o sistema de sesmarias.
Começaram a doar aos que tinham participado da guerra, doar essa terra rica, que era para plantar cana de açúcar. Terra como a de União dos Palmares, terra como a de Viçosa, que tinha 15 cm de massapé. Então era um negócio, era uma terra riquíssima, e essa terra estava sendo ocupada pelos Quilombos dos Palmares.
Quando eles destruíram os quilombos, entregaram o quinto dos negros que prenderam ao rei, e o rei deu ordem para que vendessem o restante no Rio de Janeiro e em Buenos Aires. E foram vendidos, porque ninguém ia matar 30 mil negros não; prenderam e venderam os demais, porque o negro saia muito caro.
O negro não era índio: você matava o índio e ficava por isso mesmo. O índio estava na idade da pedra, o negro sabia siderurgia. Eu levantei a história dos quilombos de Minas Gerais, 100 anos depois da destruição do quilombo daqui de Alagoas. Eles reduziam em forno catalão o minério de ferro, sabiam tratar as minas de salitre; em todos os quilombos tinha isso, lá em Minas Gerais, uns 100 anos depois, em 1787.
Aí surgiu Alagoas, o povoamento das terras do sul do antigo Pernambuco. As terras de Atalaia foram dadas a Domingos Jorge Velho [1641-1703]. As terras de Jacuípe foram dadas a Cristóvão Mendonça de Arraes. Foram dois bandeirantes que vieram para Alagoas, Domingos Jorge Velho e Cristóvão de Arraes, moradores do planalto do Piratininga, interior de São Paulo.
Daí surge a família Arraes, aqui na região do Sertão, porque eles foram combater os índios oruás e os índios capinhaós, lá no sertão do Piauí.
Assim ocorre a ocupação do sul de Pernambuco e passa a existir uma população que começa a ser diferente da do restante de Pernambuco, que até hoje é diferente a maneira de falar, a migração daqui é do Alentejo, da Galiza.
A minha família, por exemplo, o meu bisavô e o meu tataravô eram galegos, não falavam português. A gozação do pessoal de Maragogi era essa: porque eles passaram 40 anos no Brasil falando galego. É, a imigração era grande; então se fazia aqueles núcleos dos amigos, que ficavam conversando em galego. Daí é que vem o meu interesse.
Com a destruição, com a derrota dos índios na Guerra dos Bárbaros, e com a destruição do Quilombo dos Palmares, foi possível fundar Alagoas. E o primeiro relatório que pede a Dom João VI a fundação de uma capitania em Alagoas foi do próprio governador de Pernambuco naquela época, que dizia que Alagoas estava cheia de distritos, de vilas, e que as terras eram muito ricas, muita água, e que era o lugar melhor para se criar uma capitania. Quer dizer, eles mesmos sugeriram ao rei.
Mas não havia urna expectativa popular para a formação dessa capitania?
Não, o negócio aí é mais sociológico do que político.
À proporção que você vai mudando a fonte de imigração que vinha de Portugal, a fonte de fornecimento de negro já não era Angola, passou a ser Moçambique. Está nos arquivos de Moçambique, há muita coisa lá sobre os negros de Alagoas. E a parte melhor que tem; está em Moçambique, na cidade de Maputo.
Vai se criando com isso uma linha de diferenciação, uma linha cultural de diferenciação. Primeiro que Pernambuco não tem tanta água como Alagoas. O que admirava mais o governador de Pernambuco era que, quando chegava na região do baixo Una em diante, para o lado da gente, era água demais, era água! Repare isso aqui, a gente mora numa península: para sair daqui tem de ter uma ponte, pois tem uma lagoa, tem de sair contornando a lagoa, e desse lado é o mar, não tem jeito.
O chofer do meu filho, quando me traz aqui, toda vez se perde porque a cabeça dele é o Recife e o Recife tem mil saídas. No Recife, você sai por onde quiser, mas Maceió não é assim, é um enclave; Maceió é um enclave geográfico. Agora tem a ponte Suruagy, que não tinha no meu tempo…
Bem, ainda sobre o conservadorismo alagoano…
O conservadorismo em Alagoas tem base econômica. A concentração de renda de Alagoas é gigantesca; a concentração da terra é gigantesca. Então o lado conservador é o lado de poucas pessoas guardarem um mundo de bens.
Olhe, em 1873, eu contei quantos engenhos de açúcar existiam da minha família em Porto de Pedras, do lado Wanderley. Está vendo isso aí? Eram 19! Em Porto de Pedras, 19 engenhos de açúcar na mão de uma só família! Olha, então, o negócio como é: o meu bisavô tinha lá em Maragogi oito engenhos de açúcar. O engenho Samba… Ele era casado com uma das filhas do senhor do engenho Samba, que são os parentes do Chico Buarque de Holanda…
Samba é o nome do engenho?
É, o engenho se chama Samba. O Chico tem o avô pernambucano do engenho Roncador, mas o pai do avô pernambucano dele é do engenho Samba, aqui em Alagoas. E meu bisavô casou com uma delas, daí surgindo a família de Buarque Lindoso, que foi o primeiro vereador de Maragogi, quando Maragogi pertencia a Porto Calvo.
Então você veja a situação como era. Agora, fora isso, os parentescos; eram muitos. Olha, a colonização portuguesa foi feita à base de centros de colonizadores, dominados por duas, três, quatro, cinco famílias; daí começa a coisa. Então eu acho que o conservadorismo que tem em Alagoas é o conservadorismo de poucos donos e muitos bens, muitas terras acumuladas e muita riqueza simbólica.
E isso determina a nossa identidade alagoana?
Não deixa de marcar a identidade. Para não marcar a identidade, teria de Alagoas ter uma população negra gigantesca, por exemplo, ou indígena. Foram dizimados.
Os indígenas pitiguares foram todos degolados, pelos Linz, os Linz de Porto Calvo, o Sibad e o irmão dele, o Christoffer. Foram dizimados. Os homens, cortavam a cabeça; as mulheres, levavam para casa para fazer filhos para eles. Daí saiu Ana Lins, heroína da guerra pernambucana, todo esse negócio; são todos de Porto Calvo. Ana Lins é bisneta ou tataraneta do Christoffer Linz.
Então tem essa base que a própria colonização criou, do conservadorismo que a gente encontra aqui em Alagoas. Mas isso é de fundo econômico, não é de fundo social não.
Era preciso que houvessem muitos negros. A população de negros em Alagoas não é grande. A população de Alagoas, a maioria é de brancos e índios. Você vai para o Sertão só vê branco.
Uma menina estava discordando de mim uma vez, dizendo: “Professor, o senhor diz que tinha branco na Guerra dos Cabanos, mas ninguém conhecia um branco pobre porque todos os brancos tinham terra”. Eu respondi: “Não, tinham terra não, eu conheci muito brancos, você não sabe, você é do Rio de Janeiro, mas eu conheci, eu conheci, muitos brancos que tinham imigrado de Portugal, que eram galegos, eram do Alentejo, daquela região; vieram pobres e estão pobres até hoje”. Enquanto outros vieram e a esses deram sesmarias, como deram aos Vieiras, aos Rodrigues, que são os Rodrigues daqui e do sertão de Alagoas; é a mesma família.
Então é um fundamento econômico, o nosso conservadorismo…
É…
E quanto a essa história de crueldade, da dizimação dos índios, dos negros, ainda somos uma gente cruel?
Sim, de outra maneira. Deixar a maior parte da população na ignorância… O analfabetismo, a quantidade de crianças pobres. São brancas, são índias, são negras, são pobres que trabalham com quatro anos, cinco anos de idade.
Não dá tempo de o cara pensar: terminam a escravidão, mas não dão terra para os negros. Eles não pediram para vir para cá não. Não entregaram terra a ninguém. Houve a Abolição, os engenhos ficaram vazios, sem ninguém, mas não deram a terra.
Os negros saíram, correram para as cidades, porque na cidade eles tinham serviço, as cidades grandes do interior e as capitais. Eles vieram; foi a saída que encontraram, tornaram-se urbanos. E surgiu o negro urbano, o negro de canto de esquina, que ficava ali para carregar piano, para carregar as porcarias das casas para jogar no mar, aquele negócio todinho.
Isso aí é uma coisa que… Quando a Revolução Francesa fez a reforma agrária na França, era branco com branco, não tinha negro; era branco com branco, porque o branco só quer terra. E a Revolução Francesa deu terra a eles, até hoje eles têm as terras.
Eu estava no Paraná, e lá estava uma missão francesa, que foi para um encontro de camponeses. Tinha lá na faixa: Encontro de Camponeses do Paraná não sei da onde… E os franceses diziam: “Não tem camponês aqui não, aqui tem sem-terra. Camponês tem na França; o meu pai tinha terra, a Revolução Francesa foi que deu terra à gente. E temos terra até hoje”.
O sistema de herança da família é de uma maneira que você não perde o que você tem. Então tem esse negócio. Aqui não tem camponês até hoje. O campesinato aqui é pequeno.
“O conservadorismo em Alagoas tem base econômica. A concentração de renda e de terra em Alagoas é gigantesca” Dirceu Lindoso.
O campesinato aqui no Nordeste começou a se formar e então houve a guerra. As guerras agrárias, como a Guerra dos Cabanos; a luta contra o negro, o negro que estava no reduto era um camponês, ele tinha o reduto dele; a terra do reduto, ele dizia que era dele e ninguém ia mexer com ele.
Mas esse campesinato se desfez. A mesma coisa na Guerra dos Cabanos: estava se formando um campesinato e se desfez o campesinato. Então isso aí é um negócio muito sério.
Os Estados Unidos fizeram a reforma agrária, mataram muita gente. Mas, nos Estados Unidos, a escravidão não foi para todo o país. A escravidão era localizada no sul dos Estados Unidos. Lá no Norte os negros viviam livres; foram libertados logo cedo, no Sul é que não foi. E tem uma coisa: a nossa escravidão é a mais longa escravidão do mundo moderno, que foi de negros; quase cinco séculos de escravidão.
Quando você quer estudar escravidão, você estuda no Brasil, como eu faço. Porque é longa, teve tudo nessa escravidão brasileira. Você sabe que os negros do terço de Henrique Dias… Henrique Dias era um negro, lutou contra o Quilombo dos Palmares, matou, atacou, no outeiro do Barriga.
A questão da consciência.
A consciência, sim, dos que lutavam. Eu digo assim: esse negócio de ser negro, o Henrique Dias é da nobreza; era negro, mas era da nobreza portuguesa. Porque o rei fez dele um nobre, o rei fazia nobre quem ele quisesse. Aí o Henrique Dias foi nobre, respeitado pelo rei, e foi nobre até morrer, ninguém tirou não. O rei deu o título a ele, ele era do Exército.
Como um Otelo ibérico.
É, era um general do exército português. O que eu digo é o seguinte: o que precisava, ali, mais do que ser negro porque negro é uma etnia, rapaz, o negro se nasce, como se nasce branco; é um fato natural, era preciso ser não apenas negro, mas ser negro e ser quilombola. Aí é que começa uma história da linha de diferenciação dentro do quilombo.
O quilombo não ia surgir se não tivesse uma coisa antes do quilombo. O que era que tinha antes dos quilombos? As comunidades mocambeiras de negros fugidos. Foi esse o fato do século 16: formar as comunidades de mocambos de negros fugidos.
Essas comunidades eram numerosas.
Numerosas, sim. Ganga Zumba nasceu na África, estava acostumado a fazer acordo. Fez acordo com o governador de Pernambuco. Fez um acordo: “Está bom, eu fico com meus quilombos, aqui, você respeita, e a gente acaba com os do Zumbi”.
Ganga Zumba e Zumbi eram primos, parentes, parente classificatório, não sei. O Zumbi foi um dos caras que pensou bem o negócio. Porque o Zumbi chegou e disse: “Não aceito”. E recusou aquele negócio, as perturbações de Cucaú, que foi quando mataram o Ganga Zumba; foi lá em Cucaú.
Então, o Zumbi foi o primeiro cara que pensou numa sociedade de negros como nação. Nele surge, você veja nas documentações, nele surge, da figura dele, que é uma figura difícil, porque o Zumbi, bem, houve vários Zumbis… Então, quem é esse cara que tem a tradição que estudou em Porto Calvo, que vivia lá em Porto Calvo, esse cara que pensou que não podia enfrentar o domínio português só com a comunidade?
Os caras plantando, escondendo-se no mato não sei o quê, um dia isso ia aparecer; porque as plantations açucareiras se expandiam cada vez mais, iam entrar floresta adentro. E aquelas terras eram reais, um dia o rei ia acabar com aquele negócio; as terras eram dele. É o problema das terras do Brasil: as terras do Brasil pertenciam ao Reino de Portugal, à nação portuguesa; pertenciam à Ordem de Cristo e pertenciam ao rei…
A Ordem de Cristo?
É uma ordem da cavalaria medieval. Dom Manoel, rei de Portugal, era o chefe da Ordem de Cristo. Era um grupo de monges armados; faziam guerra. E a Ordem tinha essas terras, foram dadas a ela, e o papa reconheceu, pronto, acabou.
Então, a gente, quando vai estudar, como é que os franciscanos estão aqui? Ah, porque a terra era da Ordem de Cristo e deram para eles tomar conta. Aí o cara, quando nascia, registrava na igreja; o registro de nascimento era na igreja, não tinha registro civil não. A igreja era dona. Então, quem nasce, registra na igreja; era o batismo.
Você veja que, para formar uma nação, para formar uma capitania, para formar qualquer figura política, não era fácil não. Era uma coisa difícil. Então essa resistência que existe aqui, conservadora, que é a coisa pior que Alagoas tem, é uma coisa até hoje que eu acho perigosa. Eu mesmo fui vítima, aqui, desse conservadorismo. Para quem é branco você sente; avalie para quem é negro.
Geraldo Majella – Onde é que o senhor localiza a ruptura nessa nova historiografia de Alagoas que está sendo escrita ou reescrita?
Tem um historiador que eu localizei uma diferença entre os que fazem história aqui em Alagoas. É Moreno Brandão. Muita coisa em Moreno Brandão eu não concordo não; ele tinha aquela consciência da classe dominante.
Mas foi o primeiro que criou uma diferenciação do povo alagoano. Ele dizia: “Até Maceió são os homens do sul de Alagoas; de Maceió em diante são homens do norte de Alagoas, ricos e muito mais poderosos; os mais democráticos somos nós”. Ele, porque foi morar em Penedo.
Por que de Maceió para baixo? Porque aí foi onde houve, em Alagoas, maior influência do índio. Os colégios jesuítas estavam na beira do rio São Francisco; eram vários, não é? Tinha o de Porto Real e outros; eram vários colégios jesuítas e franciscanos, mais franciscanos e dominicanos.
GM – Em Penedo?
É, no próprio Penedo. Então, não se criou uma sociedade hierarquizada. O surgimento de Porto Calvo foi um negócio; o Christoffer e o Sibad Linz, quando chegaram em Porto Calvo (eles eram alemães) criaram uma sociedade prussiana, uma sociedade hierarquizada que, depois, espalhou-se para o lado todo de Pernambuco. E foi hierarquizada até o final. Basta dizer o seguinte: Penedo teve um forte só; Porto Calvo tinha três.
A cidade de Porto Calvo foi destruída?
A cidade de Porto Calvo, os holandeses construíram ela. Não tinha cidade não. As pinturas que eu vi do Franz Post [Holanda, 1612-1680], esse pessoal todinho, elas mostram as três colinas de Porto Calvo com fortalezas. Um pouco abaixo da fortaleza, um casariozinho muito ralo.
Quem mandou Christoffer Linz tirar o pessoal dos engenhos dele e botar no pé das fortalezas em Porto Calvo foi o rei: “Funde uma cidade aí”, e foi fundada Porto Calvo. Então foi uma decisão do estado colonial.
A mesma coisa aconteceu no Penedo. Penedo era mais fácil, porque quem mora na beira do rio não pode morar em cima do rio, não é? E um rio caudaloso como o São Francisco, com as enchentes e tudo, muito menos. Mas, Porto Calvo, são 42 km de Porto de Pedras para Porto Calvo, por rio, navegável; entravam barco, navio e tudo. Hoje, porque derrubaram as florestas, as águas diminuíram. Esses portos de colonização capitalizaram o povo de Alagoas.
Então surgiu no norte das Alagoas as famílias tutelares, que, só depois da destruição dos Palmares, espalharam-se por Alagoas do Norte e Alagoas do Sul. Antes, elas se concentravam na cidade de Alagoas, em Anadia e em Penedo; eram somente essas três cidades. Surgiu, assim, uma sociedade muito hierarquizada.
Essa daqui de Maceió só foi hierarquizada a proporção em que fundaram engenho, porque até 1817 não tinha quase engenho nenhum; Maceió mesmo era um deserto, de areia, não tinha nada aqui; não tem mapa holandês que mostre nenhuma casa nem nada.
Voltando ao Moreno Brandão…
GM – Além de Moreno Brandão, quando começa a acontecer a ruptura desses conceitos mais conservadores na historiografia de Alagoas?
Tem o próprio Octávio Brandão, com o “Canaes e Lagoas”.
Rapaz, essa ruptura começa com um cara, que não é inteiramente um historiador, mas que o livro dele tem história também, que é Otávio Brandão [1896-1979]. Até dizem que eu escrevi “Interpretação da Província” para provar que o Octávio Brandão existiu; olha só a sacanagem. (risos). Ora, pessoalmente, o Octávio Brandão não gostava nem muito de mim. Ele não gostava muito de mim não, dizia que eu era muito irônico.
Por que ele dizia isso?
(Risos) Porque ele me contava as coisas e eu morria de rir… Ele era uma figura. Bom, Octávio Brandão, na época dele, quando escreveu o “Canaes e Lagoas” [1919], ele partiu de um negócio que eu achei muito bem feito.
Começou a visitar a região lagunar de Alagoas, essas lagoas de Maceió. Ele estudou tudo isso aqui, correu tudo isso aí; navegou, andou a pé, estudou esse negócio todinho. Ele apresentou a lagoa e a vida na lagoa. Porque ele tinha uma boa formação de Botânica. Tem um trabalho dele, sobre um tipo de flores que dá na lagoa, que é exemplar.
Publicou na revista do Instituto Histórico, não sei se é o número 1 ou 2 ou 3; numa dessas revistas, tem um trabalho dele muito bom sobre esse negócio. Ele foi muito influenciado pelo tio dele, o Alfredo [Alfredo Brandão, 1874-1944], porque o Alfredo era um homem cultíssimo, um farmacêutico.
Octávio trabalhava com o Alfredo na farmácia, em Maceió, e o Octávio passou uma coisa que ninguém sabia até então: fez um esquema sociológico da formação de Alagoas, que está lá no final do livro. Esse esquema histórico é o primeiro trabalho de projeção sobre a História de Alagoas.
Ele não tratou, quer dizer, ele não teve tempo disso, por causa da vida política dele não teve descanso para isso, mas ele fez o primeiro esquema grande de formação da História de Alagoas, o Octávio Brandão.
Se você lê a História do Rio de Janeiro, o cara que passou um dia no governo está lá na História, e ele passou só um dia no governo. Era assim que faziam a História; faziam a História deles. Aqui, se a história do Sinimbu, do Barão de Penedo, é essa história que o Moreno Brandão fazia, é que eles eram amigos e tal e coisa.
GM – Moreno Brandão está em 1910, na primeira década do século 20. A partir daí, onde começa a sequência de ruptura?
Aí tem uma sequência muito longa. Craveiro Costa compôs a melhor história de Alagoas, num sentido assim de ser mais história, numa linguagem, que é histórica, ele tinha essa linguagem. Ele não é só um cara de gabinete; ele foi, também, um cara de luta, lá do Acre, aquele negócio todinho. E dizer que a família era de origem gaúcha.
“Alagoas tem um grande antropólogo, o Sávio de Almeida, e um grande historiador, o Douglas Apratto. Estes são frutos da universidade” Dirceu Lindoso.
O melhor desses historiadores dessa época aí, a meu ver, foi Craveiro Costa. Escreveu uma história de Maceió muito bonita, muito honesta, e é História de Alagoas, sabe. Mas o Craveiro Costa não fez a ruptura que se esperava que ele fizesse; não fez.
Depois há um outro que é muito difícil de falar porque fui aluno dele e amigo pessoal depois de homem feito, que é o Jayme de Altavila [1895-1970]. O Jayme de Altavila, o que acontece com ele é que ele brigava com a sua família e tirava você da História de Alagoas, você não aparecia mais.
Para tirar uma nova edição completa, o Moacir Medeiros de Sant’Ana falou com o Jayminho [filho de Altavila], e este consentiu a republicação do livro. Então, não houve ruptura aí. A ruptura começa nesses estudos que vão ser feitos, tempos depois, sobre Alagoas, que é, também, uma parte da História de Alagoas, que já é a parte moderna.
E é aí que entra o seu trabalho.
Aí é que entra uma coisa nova. Se eu fiz uma ruptura muito grande é porque eu comecei…
Octávio Brandão, de certa forma, ainda era um romântico, ingênuo…
É, e o Octávio fez muita coisa com a idade de 18 anos, 19… Era um menino, não deu tempo para ele fazer não. Depois ele começou a luta política, os comunistas estavam todos em Pernambuco, que é lá que tinha os movimentos sociais, e não aqui… E eu comecei com análises ideológicas, que foi o livro que escrevi sobre os cabanos.
Sendo seu trabalho um esforço de ruptura, com o passar dos anos ele se torna, por assim dizer, obra de permanência, cultura erudita. Daí o relançamento de seus livros, o reconhecimento desse trabalho.
A análise ideológica, quer dizer, eu já fiz, do movimento insurrecional cabano, com a guerra camponesa. E fiz “As Invenções da Escrita”, dos documentos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Isso aí já está feito.
A minha preocupação, hoje, é uma parte mais dos componentes. Quais são os componentes essenciais de Alagoas, a partir de 1817 para cá? Esses componentes são sociais; são as etnias existentes, o negro, o índio o problema do índio em Alagoas, com o seu massacre.
Porque em Alagoas, primeiro teve um massacre oficial, que foi aquilo no Sul: inventaram uma história de que comeram um bispo [o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha; Évora, 1496/ Brasil, 1556). Aquilo não está provado coisa nenhuma; documentos nem do Vaticano, que tem lá no Museu do Vaticano, não provam aquele negócio. Aquilo foi uma luta de poder entre o bispo e o governador geral do Brasil.
Então, deu-se o massacre dos caetés. E não só fizeram o massacre como passaram a criar um povo caeté em Alagoas que nunca existiu. Porque os caetés são os tupinambás, que foram degolados num levante do Rio de Janeiro. Eles fugiram para cá, passaram por aqui e foram bater no Maranhão; fundaram São Luís. Quem fundou São Luís do Maranhão foram os franceses e os tupinambás. É uma cidade fundada por índio e por franceses.
É a primeira capital fundada por franceses, ora, tem até a estátua lá do general Ravardière, que foi quem fundou Maranhão. Então eram grupos tupinambás; caeté significa… “ca” é mato e “eté”, verdadeiro, quer dizer, é parte de um nome; podia ser assim, “tupinamba-caete”, uma coisa assim. Porque os índios do sertão de Alagoas eram todos tapuias-cariris; não eram dos grupos de tupi-guarani, como os caetés, como os tupinambás.
Então o “caeté” é mais uma criação desta nossa “cultura mentideira”…?
(Risos) Essa expressão é do Pedro Paulino da Fonseca. É isso aí, as mentirinhas começam a surgir.
Quer dizer, então, que o povo caeté em si…
É tudo tupinambá, você, para falar dos caetés, está falando dos índios tupinambás.
GM – Professor, a partir da universidade é possível perceber, na sua ótica, uma mudança na historiografia produzida aqui em Alagoas nesses últimos 50 anos, por exemplo?
Rapaz, olha, eu assisti à fundação da Universidade Federal de Alagoas. Quando eu cheguei aqui, só tinha uma escola superior, que era de Direito. Depois fundaram Engenharia e Medicina. Então, eu assisti a tudo: foram fundando as coisas, pessoas que eu conhecia, chamavam professores meus, aquele negócio.
Eu esperava que a coisa fosse mais rápida nesse sentido que você está dizendo, que criasse uma mentalidade nova. Mas não. O grande problema da criação da universidade de Alagoas é que não havia professores universitários para ensinar e os professores de ginásio foram contratados como professores universitários, com a cultura de colégio e curso primário.
Essa coisa de ter uma influência desse tipo, que você está pensando que podia ter, teria se a historiografia brasileira fosse uma historiografia de grandes historiadores teóricos, mas não teve isso. De todos os nossos historiadores, o mais popular é o Rocha Pombo [1857-1933].
O Varnhagen [Francisco Adolfo de Varnhagen; Brasil, 1816/ Áustria, 1878] é o demônio do quinto testamento, é o cara mais reacionário do mundo. É filho de um alemão geólogo, o velho Varnhagen, que veio aqui com a imperatriz, que depois foi para o Chile. O Varnhagen ficou aqui, depois foi embaixador… Embaixador do Brasil aonde? Na terra dele, na Áustria. O que o Varnhagen faz com o movimento dos mineiros lá, que o rei mandou prender todo mundo, o levante de Minas Gerais, não se faz com ninguém.
Quem deu a ideia ao Varnhagen de escrever a história e daí ele penetrou muito bem nos arquivos portugueses foi um cientista alemão, que veio para o Brasil, gostou do Brasil; era amigo da imperatriz, o Von Martius [Karl Friedrich Philipp von Martius, botânico e antropólogo; Alemanha, 1794-1868], que veio com o amigo dele, o Von Spix [Johann Baptiste von Spix, naturalista; Alemanha, 1781-1826], que escreveu o melhor livro sobre botânica brasileira; o Martius foi quem escreveu um tratado chamado assim “Como se deve escrever a História do Brasil”; era naturalista, monarquista, como todo alemão da Prússia, resultado: serviu de modelo para o Varnhagen escrever a grande história dele, como, também, veio servindo a todos os historiadores até um dia desses, até Capistrano de Abreu (1853-1927), que foi quem começou a criar uma nova História do Brasil. Capistrano de Abreu era linguista, escreveu um livro sobre a língua dos índios Caxinauá, que é um tratado, uma especialidade.
GM – O senhor não está sendo muito duro com a Universidade? Tudo bem, a UFAL não começou como a Universidade de São Paulo, que foi buscar a inteligência europeia e norte-americana. Mas num estado pobre, que cria uma universidade como a UFAL, ao longo de quatro décadas há uma produção intelectual nessa universidade que, hoje, muda a historiografia alagoana. Porque as casas ditas da inteligência alagoana, o Instituto Histórico e a Academia de Letras, meio que estagnaram do ponto de vista da inovação da produção.
Meio que estagnaram não, elas estagnaram.
GM – Então quem as substituiu?
Eu digo isso porque, em matéria de historiografia, até agora não deu uma coisa que fosse importante. Porque o trabalho pequeno do Octávio Brandão deu um resultado, uma coisa que a gente aproveita hoje em dia. Mas o pessoal da universidade ficou repetindo os historiadores. Faziam um estudo, localizavam estudos, por exemplo, tem um estudo muito bonito sobre Anadia. É bem feito, mas Anadia não é só aquilo; Anadia foi mais do que aquilo, compreendeu? A influência de Anadia foi grande.
GM – Esse estudo é de Nicodemos Jobim?
É, mas Anadia foi um negócio muito maior. Porque era a principal cidade entre as chamadas cidades do centro.
GM – Mas esse mosaico, de trabalhos localizados e pontuais sobre determinados aspectos da História de Alagoas, não ajuda na construção de uma nova História?
Esses estudos são monográficos, e História se começa a fazer com monografias. Porque você localiza uma região, depois localiza outra, depois localiza outra… Eu acho que, na história da sociedade do açúcar, quem escreve a grande obra, aqui em Alagoas, é Manuel Diegues Jr. [1912-1991].
É ele quem escreve a grande obra, ele a faz dentro daquele aprendizado com Gilberto Freyre [1900-1987]; ele foi do grupo de Gilberto Freyre, no Recife, que se reunia lá no Arquivo Público de Pernambuco para ver documentos, aquele negócio todinho. Ele fez muita pesquisa para Gilberto Freyre. Assimilou o método sociológico norte-americano, que tinha surgido nos Estados Unidos, e Gilberto Freyre trouxe para cá: de Boas [Franz Boas, EUA, 1858-1942], de Margareth [Margareth Mead, EUA, 1901-1978], esse leque de cientistas alemães que estavam nos Estados Unidos. É um método culturalista. Isso aí foi importante. Ele deu um retrato da sociedade dos engenhos de açúcar em Alagoas, dentro dos princípios que Gilberto Freyre ensinava em Recife.
Um outro que a universidade devia ter aproveitado mais as coisas dele foi Estevão Pinto (1895-1968). O dr. Estevão Pinto era um funcionário da rede ferroviária da Great Western e professor do Recife. Tinha uma grande cultura em Antropologia, fez pesquisa muito grande com os índios fulniô e com os tapuias-cariris.
GM – Professor, eu insisto. O senhor não está sendo muito rigoroso com uma universidade com pouco mais de quatro décadas? Temos ali o trabalho de Douglas Apratto sobre o ex-governador Muniz Falcão (1915-1966), o de Luiz Sávio de Almeida, vários trabalhos de Antropologia, sobre índios, coisas importantes em Sociologia, sobre a violência em Alagoas, que é um fenômeno recentíssimo de estudos na universidade.
Pois é, isso está havendo agora, de dez anos para cá. É muito pouco. Quando o [João] Azevedo era reitor, eu fiquei lá conversando com ele na reitoria e falamos disso aí. Você sabe que em 1964, quando botaram todos aqueles professores de Brasília para fora, os militares tinham de preencher a Universidade de Brasília, mas tinha de ser da maneira que ninguém se lembrasse do Darcy Ribeiro [1922-1997]. Eu vi a biblioteca que ele deixou lá em Brasília, a maior coleção de obras clássicas em grego e em latim, edições maravilhosas, novíssimas, doadas pelo governo alemão, compradas pelo Darcy.
Aqui botaram dois rapazes que ensinavam no ginásio; não podia. O grande problema da ditadura foi esse, não havia intelectuais dela; ou eram aqueles bons paulistas, não é, que eram mais advogados do que qualquer outra coisa. E a gente fazia as coisas por baixo. Eu fui dar aula de Etnologia na Faculdade do Rio de Janeiro, e não havia ninguém, eu cheguei lá e não tinha mestrado. Eu dei um curso lá que foi aquele crítico literário, o Alceu Amoroso Lima [1893-1983], quem me convidou. Dei curso de pós-graduação, preparando os caras que saiam da universidade doutor e não sabiam quase nada.
Isso é um problema, não é culpa do pessoal da universidade daqui não. E que não tinha mesmo. Fundaram a universidade quando a grande geração de literatura alagoana já estava se acabando. Uma vez o Aurélio me disse uma coisa: “Ah, para tirar uma nova edição desse dicionário, eu tenho de colecionar aqueles termos todinhos que você aplicou lá em ‘Póvoa-Mundo’, que eu não conhecia aquilo”. E eu disse: “E você não nasceu em Passo do Camaragibe, rapaz, como é que você não conhecia?” E ele: “Não, Dirceu, mas eu fui estudar Português, esse negócio todo em Porto de Pedras; Passo do Camaragibe não tinha não; eu fui para Porto de Pedras, meu pai me mandou para lá. Quando terminei aquele negócio todo de Português em Porto de Pedras, meu pai mandou que eu subisse o rio, e fui para Porto Calvo aprender Matemática. Só aí é que fui para Maceió”. Você entendeu como é o negócio? Maceió tinha se formado, mas era uma cidade de comerciantes. E essa foi uma geração importante, que deu grandes poetas, deu grandes músicos; não foi só a parte de literatura, há os grandes músicos alagoanos.
Como Heckel Tavares (1896-1969).
Como Heckel Tavares, o Heckel eu conheci. Mas tem mais. Então eu acho que essa coisa demora, o negócio da cultura demora. Não depende de desenvolvimento não, porque a Prússia era uma região atrasada da Alemanha, ali só tinha príncipe, só tinha esse pessoal quando o Bismarck [Otto Von Bismarck, Alemanha, 1815-1898] fundou o primeiro Reich, que foi em 1861. Dali não saiu Goethe e um conjunto de grandes intelectuais numa região que vivia da agricultura, e que não era mais adiantada que a agricultura da região daqui? A Prússia era muito atrasada; ainda vi restos das coisas da Prússia quando estive lá na Alemanha, que nem Hitler acabou; com todo aquele modernismo dele, ele não acabou.
Então eu acho que aqui é tudo a mesma coisa, demora. Agora, surgiu, por exemplo, você citou aí… Vão reeditar um estudo do Christiano [Christiano Barros Marinho da Silva] sobre os índios xocós, uma coisa importante; os do Sávio, vários estudos diferentes de Antropologia, com os índios. Alagoas hoje tem um grande antropólogo, o Sávio de Almeida, e um grande historiador, o Douglas Apratto. Estes são frutos da universidade. E um grande economista, o Cícero Péricles de Carvalho. Hoje a UFAL é outra coisa.
Bom, falando dos estudos recentes da universidade sobre violência, onde o senhor a localiza? De onde ela veio e como se manifesta hoje na cultura alagoana?
Rapaz, a violência não é bem um tema histórico, mas sociológico. Na estrutura da sociedade é que você vai buscar o que forja a violência. A violência, você entende um pouco quando distinguir a estrutura do poder, o poder social. Agora, com relação a Alagoas… E não foi só aqui, porque no sul da Itália foi a mesma coisa; essas regiões que eram mais atrasadas, do ponto de vista da civilização, as contradições que se formam no meio social é que provocam isso. Porque, pelo que você tem aqui, o que você vai esperar de um tipo de sociedade como esta alagoana? Você quer que não tenha violência? Uma vez eu disse ao Sávio: “Olha, Sávio, Maceió é uma cidade de ricos cercada de pobres por todo os lados”. Ele disse: “Não, Dirceu, é o contrário; é uma cidade de pobres, cercada de alguns ricos por todos os lados” (risos).
Essa foi boa…
(Risos) Foi boa, não foi? Eu nunca esqueci, eu morri de rir. Eu disse: “É, você tem razão”. É isso aí. Isso gera a violência. O problema da violência não pode ser… Repare o que a sociedade paulista forjou: um tipo de violência que se gera no interior do presídio, quando o cara está sob custódia do estado, trancado. Isso é um absurdo, uma situação como essa, nem aqui. Aqui a violência está na rua, mas lá o centro, a irradiação, sai de uma coisa que é o estado quem manda. Por que? Porque a sociedade paulista, durante 21 anos de ditadura militar, com as forças policiais na mão da ditadura, fazendo o que queria, não terminou não. Passaram, agora, os presos, a matar os agentes policiais. Quer dizer, é uma reviravolta que não tem jeito. Se isso fosse nos Estados Unidos, mandavam fuzilar. E aqui, como se vai resolver agora?
O problema é que o Brasil é uma federação, o Lula disse que não pode fazer intervenção em São Paulo porque o governo de São Paulo não quer; porque São Paulo é um feudo do PSDB, não deixam ninguém encostar ali. O Fernando Henrique calculou todo esse negócio aí; eu conheço bem o Fernando Henrique, ele pode ter todos os defeitos do mundo, menos de ser burro. E a família dele é toda de militares. Quem é o pai de Fernando Henrique? General do Exército: foi general de Getúlio [presidente Getúlio Vargas, 1882-1954]. Quem é o tio de Fernando Henrique? General do Exército… Qual é o outro tio de Fernando Henrique? General do Exército, aquele que criou aquela companhia de estudos econômicos em São Paulo… Só o Fernando Henrique não é general do Exército, só ele; a família toda de generais do Exército, e generais criados por Getúlio Vargas. É essa a formação dele.
Tem outras coisas sobre São Paulo: o levante de São Paulo, por exemplo, aquele levante que foi esmagado por Getúlio Vargas, pelo Getúlio e pelo [general] Góis Monteiro aqui de Alagoas. Aquele levante contra Minas Gerais, a contradição de excesso de imigração, que veio da Itália, que veio da Alemanha, que veio da Ucrânia… Aqui é outra coisa, não é violência da sociedade industrial, não; São Paulo é. Nos Estados Unidos, nos anos 1920, era uma coisa terrível, os gangsteres todos da Itália…
E, afinal, para onde caminha a cultura alagoana?
Eu, realmente, para onde ela caminha não sei; espero que não caminhe para mim (risos). O Moacir Palmeira [antropólogo do Museu Nacional], no Museu da Imagem e do Som, naquele dia do lançamento do meu livro, disse uma coisa muito interessante. Ele conhece toda minha obra, trabalhei junto com ele, aquele negócio todo. Ele disse: “Ficam exigindo do Dirceu o que ele faz para a cultura alagoana”. E aí disse: “Eu vou dar a resposta, o Dirceu já passou essa fase de cobrarem a ele coisa que tem de ser da cultura alagoana, porque ele já deu a contribuição dele”.
Então o senhor está lavando as mãos…
Mas o Moacir continuou: “A temática do Dirceu, hoje, é muito mais ampla, pelo que eu estou vendo do livro aqui, em que ele fala do México, e do Brasil Império, do México de Juarez, como foi que surgiu essa ideia de nação”. Claro, eu já escrevi sobre a Guerra dos Cabanos, que eu achei a coisa mais importante que tinha aqui; têm os textos meus aí, esparsos, sobre as guerras dos bárbaros no sertão alagoano; esse livro que o Majella pediu para eu escrever agora, que estou para entregar à editora, que é sobre o Quilombo dos Palmares. Um livro pequeno, mas toda dúvida que contém nos documentos todos aí, eu coloquei lá. Porque não posso tratar um negócio tão sério como o Quilombo dos Palmares como os historiadores alagoanos, que ficam, “ah, o nome do reduto é tal, é fulano, é big-bang-bang ou big-big bing”…
Eu não vou terminar nunca. Os caras estavam escrevendo os nomes dos africanos; não é isso que eu vou discutir. Vou discutir porquê surgiu, e o que surgiu primeiro. Não foram os quilombos que surgiram primeiro; o que surgiu primeiro foi a comunidade de mocambos, que deu origem aos quilombos e à grande figura, bem, tinham duas grandes figuras de chefia, Zumbi e Ganga Zumba, no último período, que foi o auge. E como Ganga Zumba fez com o Carrilho, presidente de Pernambuco, o acordo, que foi quando Zumbi, aquela confusão toda no Cucaú, e matam o Ganga Zumba. Aí é que você vai entender a história daquele negócio.
Tem de botar no meio os instrumentos de interpretação: a Sociologia, a Antropologia, para você entender. Nos mocambos havia negros, havia índios e havia brancos. Por isso eu digo, é muito difícil dizer para onde ela vai, a cultura alagoana (risos)…
Ela está mentindo menos?
É, porque a mentira é uma arte de invenção, não é? E Alagoas é fogo na roupa!
E nem sempre a gente pode dizer a verdade, é isso?
Não sei se é porque não pode dizer se você quiser, você diz. Em Alagoas, o problema, o que faz medo não é a ameaça, é o silêncio como dizia o jornalista e historiador Décio Freitas [1922-2004]. Ele dizia: “O alagoano, quando ele fica calado e fica me olhando nos olhos, eu fico apavorado (risos). Porque eu sou gaúcho, eu mando logo o cara para aquele lugar, brigo com ele. Se for para brigar, se for para matar, vamos lá. Mas o alagoano fica olhando para você, e você nunca sabe se ele está rindo dentro dele”, isso era o Décio que dizia, “ou se ele está concordando com você” (risos).
É o “ser taciturno” de que fala Moreno Brandão.
É, é isso aí.
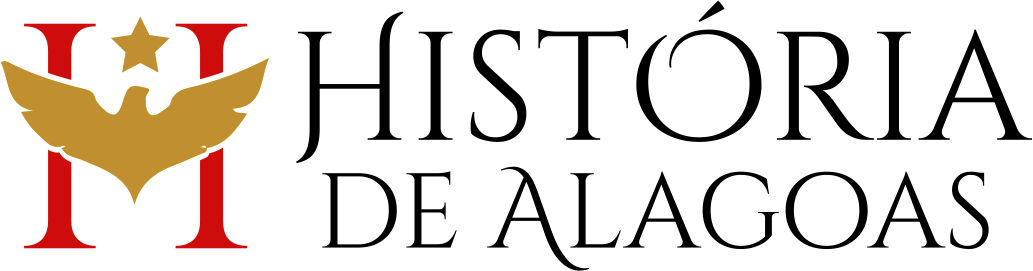












Deixe um comentário