O céu da tribo Pancarú
 Tribo Koiupanká dos povos Pancararu, em Inhapi, Alagoas. Foto Edberto Ticianeli
Tribo Koiupanká dos povos Pancararu, em Inhapi, Alagoas. Foto Edberto Ticianeli
O texto a seguir tem importância histórica para Alagoas por fornecer informações relevantes sobre a origem de algumas das nossas tribos, principalmente as do alto sertão.
Waldemar Lopes, publicado na revista Carioca nº 86, de 12 de junho de 1937

Terreiro onde os praiás executam suas danças à sombra de uma quixabeira centenária
A tribo dos Pancarús, localizada no Brejo dos Padres, município de Tacaratú, no Estado de Pernambuco, vive em extrema miséria, perdendo, dia a dia, sua originalidade, pelos frequentes contatos com a cidade e também pelos caldeamentos com os trabalhadores das fazendas próximas, que produziram curibocas e mamelucos, homens avessos aos hábitos indígenas.
Tanto já se acentuou a influência estranha, que o mocambo está substituindo a “oca”. Paredes de taipa, com cobertura de palha de cana, constituem a casa de hoje.
A taba acabou-se, mas ficaram as crenças nos “pajés”.
Têm, os Pancarús, uma religião estranha e própria, com origem numa lenda que ainda revela a procedência da tribo.
Acreditam na existência muito remota de uma grande nação indígena, a dos Macarús, que compreendia diversas tribos, inclusive a sua. Dominavam elas trechos próximos à margem do São Francisco, até as serras das imediações. Isso tanto do lado pernambucano, como nos da Bahia e Alagoas.
Assim, os Pancarús viviam junto às serras do Brejo dos Padres; outros nas serras Negra, de Geritacó, os Carnijós na direção de Águas Belas e, do lado baiano, ainda algumas, especialmente onde é hoje o município de Santo Antônio da Glória. Outras ainda mais se internaram no sertão, porém sempre perto do rio. Cada tribo era dirigida por um “tuxauá”, e todas juntas constituíam a grande tribo dos Macarús, sob o poder supremo dos “tuxauá-assú”.
Os diversos ramos da grande família mantinham estreitas relações, quer de amizade, quer comerciais. Quando a seca flagelava uma dessas zonas, os locais levantavam acampamento para outra taba Macarú, onde houvesse abundância. Meses ou anos depois, os flagelados voltavam à sua terra.
Ideia do dilúvio

Os praiás
Certa vez, as águas do São Francisco começaram a subir progressivamente, permitindo que os Macarús se reunissem nas serras mais altas, situadas entre Itaparica e Paulo Afonso.
A inundação se fez sentir durante longo tempo, a ponto de haver escassez de mantimentos e ser consumido todo o “poi” (fumo), coisa indispensável às tribos. Depois que o rio voltou ao seu leito normal, os índios, sem as baforadas de “poi”, saíram pelos campos, desapontados, à procura de suas antigas plantações, que as águas haviam arrasado. “Vasculharam” as caatingas, em direção a Itaparica e Paulo Afonso de hoje. Cansados da viagem, foram beber água no São Francisco, mas, no grande rio, o seu desespero fez com que se transformassem em pedras, formando as cachoeiras de Itaparica e Paulo Afonso.
Sobreviveram a este encantamento alguns Pancarús, os Carnijós e elementos de outras tribos de menor importância.
Os Pancarús acreditam que o ruído das águas das cachoeiras é produzido, ainda hoje, pelos seus antepassados, dançando e cantando.
Creem que esses lugares são de prazeres e aspiram ir para as cachoeiras, depois de mortos, pois que elas serão para eles o céu.
Nascimento da religião Pancarú
Os sobreviventes, como meio de agradar os que ficaram no céu, constituíram um grupo de cinco homens privilegiados, a quem chamaram de “praiás”, com a incumbência de executarem danças religiosas em honra dos “encantados”, havendo, ainda, a feiticeira, com a obrigação de fumar e lançar fumaça na direção das cachoeiras. Acreditam eles que os que estão nos céus recebem estas baforadas e ficam satisfeitos. O cachimbo é de chifre de boi, furado de lado. Ela o acende com “pedras de tirar fogo”, batendo uma de encontro à outra, junto ao algodão queimado.
Com as danças e o fumo, creem que adquirem graças, como abundância de caça, chuvas, curas de moléstias, etc.
Esses silvícolas que temem, até o exagero, as forças superiores, maximamente quando sobrenaturais, acham que os “encantados” podem zangar-se e castigá-los se não procederem desse modo.
Ritual religioso

A pajé fuma para os encantados
É vasto o ritual religioso dos Pancarús. Sobressai, entretanto, a “corrida do imbu”, festa realizada quando é encontrado o primeiro imbu do ano, o que sempre ocorre em janeiro.
Fazem-na em agradecimento aos “encantados”, pela safra próxima de um fruto que tanto apreciam.
Marcam o imbu com uma flecha e avisam o “tuxaua”.
Os “praiás” pintam o corpo de “tauá” (cores variadas) e dançam parte da noite no dia da cerimônia. Virgens, em número igual, preparam-se em condições idênticas. Cada uma leva ainda uma cesta de palha de ouricuri.
Alta noite, todos partem para o mato. Os homens caminham numa direção e as mulheres noutra, até que se encontrem sob o imbuzeiro indicado, donde voltam aos pares.
No pátio reservado para danças, já os espera cáusticos galhos de cansanção.
De troncos nus, os “praiás” e as virgens açoitam-se mutuamente, com essa erva, horas e horas.
O “praiá” e o “toré”
O “praiá” veste-se com “tunan”, ou sejam fibras de caroá, soltas, em forma de funil, que descem da cabeça até abaixo da cintura. Daí, como saias, outras vão até quase os pés.
Para ver, respirar ou comer, o dançarino conta com furos no “tunan”. Na mão tem um maracá feito de cabaço. O diretor da dança conduz, além do maracá, um bastão enfeitado de penas de pássaros. Na cabeça, há penas em forma circular, donde parte para as costas uma manta de tecido de cores variadas.
Divididos em um grupo de dois e outro de três, os “praiás” executam uma dança que tem o seu nome.
Fazem rodas, como as crianças na cirandinha, com a frente ora para dentro do círculo, ora para fora.
Os grupos, de braços dados, fazem carreira, depois, para esbarrar, de súbito, em frente às duas mulheres que cantam as loas e marcam o ritmo dos movimentos com seus maracás. Um grupo corre de encontro ao outro, e, com um grito de “uêêêê”, separam-se. Os dançarinos acompanham as cantoras nas loas.
Em continuação à cerimônia, rodeiam o pátio, coluna por um, dando tombos para a direita e para a esquerda.
O “toré” é uma dança diferente. Cada “praiá” dá o braço a uma mulher. Os pares executam pequenos círculos em torno de um maior.
A música para esses atos é extremamente pobre, de duas ou três notas, apenas. Nos dias de festa, a dança escolhida dura 24 horas, a fio.
A organização da tribo

Criança Pancarú
Na tribo, a autoridade não é hereditária, como acontece comumente, nas demais. Há pouco de democracia. O “tuxauá” atual, João Moreno, índio ainda moço, sabendo ler, foi escolhido para reger os Pancarús. O chefe anterior era um dos membros da família Bombo.
Como entre os Tupinambás, no Maranhão, uma mulher é quem faz as vezes de pajé, no Brejo dos Padres. É procurada para curar, “tirar atraso” e até pode modificar as disposições das nuvens, na época de seca. Por isso, é merecedora do respeito do “tuxauá”. Os “praiás” a ela obedecem incondicionalmente. A “pajé” os dirige em todo seu ritual religioso.
De início, esses dançarinos, após os atos, recolhiam-se à “oca”, onde só a feiticeira tinha permissão de entrar. Hoje, em virtude de os costumes das tribos estarem profundamente atingidos pela civilização da cidade, os “praiás” já vão à feira. Ainda receosos de aparecer, ficam na entrada das ruas. Assim, só usam o “tunan” quando dançam.
As mães dos “praiás” têm certas regalias e algumas são cantoras.
A maioria dos indígenas do Brejo conserva os traços da raça primitiva, embora um número insignificante esteja caldeado.
Na capela de Geripancó (Brejo dos Padres), o vigário de Tacaratú celebra de mês em mês. Os silvícolas vão à missa. Casam-se. Batizam os filhos. Entretanto, conservam com carinho a crença dos seus antepassados.
Formação dos Pancarús – o dilúvio
A lenda da formação do céu revela que os pancarús e os carnijós, de Águas Belas, resultam da fusão de várias tribos pequenas.
Seus costumes refletem, por isso, em face de quanto se sabe da existência dos primitivos habitantes do país, uma falta de unidade que não se pode deixar de levar em conta. O mesmo ocorre com a língua falada pelos membros da tribo.
Outro aspecto interessante de suas lembranças é aquele que diz respeito à crença do grande dilúvio, que tudo destruiu, causado pelas águas do são Francisco. É sabido que, anos atrás, as enchentes desse rio alcançavam proporções muito maiores do que as que hoje se verificam. Em 1926, na vila de Itaparica, situada à sua margem, 17 habitações ruíram, sob a investida das águas. Outra grande cheia, em 1919, inundou área maior, destruindo 28 prédios e arruinando 16. Em 1906, as águas cresceram a tal ponto que levaram quase toda a vila. Que proporções não teria sido aquela formidável enchente a que escaparam, apenas, os cumes dos montes, onde se abrigaram, transidas de pavor, tribos das regiões vizinhas e cuja lembrança está viva, ainda hoje, na memória dos Pancarús?
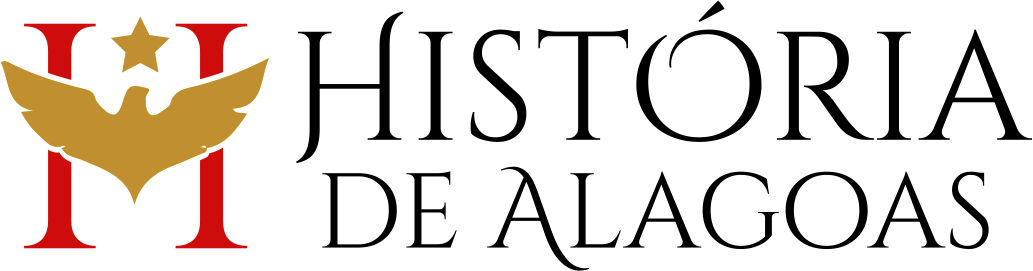

Particularmente, considero lamentável a lenta destruição dos Povos Indígenas, os legítimos senhores de nossa Terra Natal quando os portugueses aqui adentraram. E a destruição desses povos continua, célere, em toda a América Latina.
Os antigos Carnijós, hoje índios Fulni-ôs, não tem ligação alguma com os Pankararus ou Pancaru.
Não temos ligação com os Pankararus!
Somos a única tribo, índios do Nordeste que mantém o ritual em sigilo e nosso dialeto vivo. Caso tivéssemos alguma ligação com essas tribos supracitadas, teríamos perdido nossa Cultura que por conseguinte faz parte da nossa vida.
Alguém sabe o nome da planta que ele fumavam, o dito “Poi”?