Jaguaré
Conto de Breno Accioly publicado no Diário Carioca de 29 de dezembro de 1957
 Av. 24 de Outubro em Santana do Ipanema
Av. 24 de Outubro em Santana do Ipanema
Breno Accioly
*Publicado no Diário Carioca de 29 de dezembro de 1957.
Agora, Amadeu não precisa mais de relógio. Sabe muito bem nunca mais precisará saber das horas e pouco se lhe importa seja comprida a noite.
Um sono doente impede a velha de ver Amadeu fumar, cigarro no canto da boca sem fumaçar-lhe os bigodes, cigarro lentamente se transformando em cinza, cinza que esfria e teima em não cair no peito descoberto.
Os braços enrolados por trás da cabeça, que não dói mais, os dedos sentindo as carnes do pescoço sempre tão branco. (Repousando como se pela primeira vez pudesse afugentar sono. Amadeu pensa e raciocinando sempre a mesma coisa, esfrega as mãos; não se recorda de ter visto antes a escuridão do quarto nem o vulto do guarda-roupas como uma porta surgida não sei de onde).
Nenhuma lembrança de ter aquecido o colchão com olhos abertos, escutado o vento da noite, visto nuvens desembestadas apavorarem madrugadas pela janela entreaberta. Nenhuma recordação tivessem relâmpagos lhe incendiado as pestanas, sempre volvidas para a parede onde o retrato de Jaguaré imperava numa moldura.
Procurava a cama já cheio de sono, era bocejando que Amadeu vestia o camisolão, havia tempo que a velha era para ele velha demais. Entre eles a intimidade tinha cessado havia anos, mas Catarina exigia um beijo, todas as noites entregava a Amadeu seus beiços moles e depois de benzer-se avançava até à boca de Amadeu suas gengivas murchas onde nenhum dente se implantava para mascar fumo.
Amadeu sempre dormira assim, de repente, quando descalçava os chinelos já estava sonhando, procurando a cama de ferro fazendo barulho, arrastando sem pressa os pés no corredor estreito, pequeno.
Talvez Amadeu nem sentisse o beijo de Catarina, com o sono ferrado fosse beijado pela mulher. Dormiam nos fundos da casa num quarto sem forro, paredes grossas, marretadas certa vez para abrir uma janela dias antes de Jaguaré nascer. O balcão da loja onde fora a sala de visitas, depois cercado por gavetas onde Amadeu viveu vendendo rendas, presilhas, medindo no metro amarelo de madeira ordinária braçadas de fitas, fitas largas e estreitas, fitas brancas, azuis, cor-de-rosa e vermelhas surgidas das suas mãos à maneira de serpentes.
Amadeu fizera planos, desejara sair de Santana do Ipanema, revê-la somente anos depois como um homem rico, entrando na cidade pela Estrada do Monumento, buzinando alto, chispando num automóvel de cor berrante.
Queria viver em S. Paulo, enriquecer no Sul, ganhar dinheiro num meio estranho, ele sozinho vencendo tudo, prosperando sempre. Sonhava com o barulho da metrópole no silêncio dos dias quentes e sempre depois do almoço folheando revistas estragadas, queria cruzar avenidas e ruas que as páginas estraçalhadas mostravam.
Embriagava-se com os pensamentos fixos, sempre repetidos, sempre os mesmos como nuvens estateladas de tardes sem vento.
E via-se despedindo-se de Tibúrcio Fogueteiro, ganhando dinheiro de Padre Bulhões quando fosse pedir-lhe bênção; alcançando Maceió depois do caminhão deixar atrás de si retas vermelhas da estrada de Palmeira dos Índios: caminhão contornando os precipícios do Tabuleiro do Pinto numa marcha de aleijado, vagarosa, minutos antes da Capital de Alagoas surgir nos casebres de Bebedouro.
Sem conhecer a estrada, revia-a sempre como próspero caixeiro-viajante de rota contumaz. Era escutando as pabulagens de Zé Pó que Amadeu aprendia coisas, ficava sabendo que o mar de Maceió era domado por trapiches, donde alvarengas desatracavam carregadas de fardos de açúcar, visando cargueiros e paquetes fundeados longe, bem distante da praia.
Naquelas noites de aventuras narradas no pátio da igreja, Amadeu sonhava com as histórias que o chofer de caminhão dava cunho de verdade, coloria-as com tinta forte até que a cozinheira do Hotel Ipanema descia pela escada dos fundos e abrindo o portão como quem não quisesse nada se perdesse no beco.
Nessas ocasiões Amadeu revia Catarina como um trambolho. Odiava-a quando sentia ser impossível largar-se mundo afora, viver distante de Santana do Ipanema.
Não devia ter-lhe falado, com as suas poucas falas de analfabeto ter dito a Catarina que gostava de seus modos
Continuava Amadeu sonhando aventuras mas não era besta de fugir. Tinha medo da fome e quando via mendigo pedindo esmola sentia vergonha. Mas enquanto não se decidia, ficava vermelho ao cruzar com Catarina, detestando-a apenas quando os seus sonhos se avolumavam durante o seu trabalho de enxada no cercado de Padre Bulhões, sonhos sempre presentes quando aprendia a ler estudando na cartilha da escola noturna, depois do amansar mulas durante as tardes, animálias depois vendidas como montaria de chouto.
Mas o seu pensamento nunca deixava de fremir, estivesse Amadeu capinando ou de cabresto em punho, quando a sua imaginação inventava e via em seguida com nitidez uma cidade estranha, terra longínqua o acolhendo como a terra que ele lavrava.
Nessas ocasiões Amadeu se enternecia e murchava os olhos como se estivesse em cima de uma cabrocha… Delirava, às vezes. E, com os olhos soltos não via mais as águas sujas do rio nem escutava sequer os roncos da cheia de junho a ensurdecê-lo.
Esquecia-se de tudo, vendo somente a cidade grande que as folhas de revistas de barbeiro lhe haviam, certa vez, mostrado. Impressionado. Vendo as ruas de São Paulo, as avenidas de São Paulo cruzadas por viadutos de cimento armado, sonhando e se esquecendo que Padre Bulhões sabia repreender, danar-se-ia se o visse de queixo apoiado no cabo da enxada.
Não era filho de pai rico, sendo pobre não poderia devanear.
Desconhecia até mesmo o pai, se fora a própria mãe quem o abandonara detrás do altar-mor, Amadeu, não tinha certeza.
Durante o dia aquelas fugas para uma cidade que somente conhecia por fotografias e de noite aqueles outros sonhos que traziam Catarina com coxas de mulher feita.
Coxas vistas uma vez sem querer, coxas peludas e grossas esmagando-lhe a cabeça com pesadelos. Coxas jamais esquecidas desde uma tarde rasgada por zurros de jumentos que atropelavam no cercado da baixada, vizinho do tanque público onde lavadeiras ensaboavam sujeiras.
Já conhecia Catarina, sabia o quanto cabeludas eram suas pernas que subiam a ladeira de Camunxinga para deter-se em barracas de sábados de feira.
Era aos sábados que a feira atraía Catarina e de lá da porta da igreja Amadeu a espreitava, aguardando-a com olhos cheios de gula, sentindo o coração atordoar seu peito largo.
Então, começava a possuí-lo, era de longe que Amadeu namorava a Catarina desatenta, seguindo-a apenas com os olhos, nunca se atrevendo a barrar-lhe os passos, ver de frente a ruiva de seios túrgidos que pechinchava comprando abóbora, pimentão e jacas que vinham dos sítios em caçuás.
Amadeu continua se recordando. O cigarro seca-lhe a boca, a tosse que lhe aperta a garganta obriga-o a sentar-se e ainda na cama acende a luz.
Lá está um retrato que Amadeu detesta, à parede caiada um retrato amarelece uma antiga moldura. Não parece mas é o retrato do casamento de Amadeu, a fotografia não tem grinalda mas é um instantâneo batido na sacristia logo depois de Padre Bulhões ter tirado dos ombros a estola que manchava de escarlate a sobrepeliz.
Os anos não lhe perturbam a memória, todas as vezes que relanceia a fotografia Amadeu se recorda, como agora, dos soluços da noiva. E a Catarina amuada lhe invade a recordação com olheiras de quem velou, chorando durante a cerimônia, atravessando a nave ainda de nariz vermelho.
Uma Catarina tão diferente daquela outra, que não corou nem sequer abriu a boca, quando Amadeu lhe apalpou as carnes da bunda como quem apalpa travesseiro lá no crepúsculo dos lajedos onde desafiadores relinchos de éguas ecoavam; uma Catarina diferente, sem choro nem venta escarlate, uma outra Catarina, decidida Catarina que voltou no dia seguinte porque quis, porque gostou de se entregar em pleno campo, ser de Amadeu que a encontrou deitada na terra cheia de sombra, tudo isso sem ninguém ver, embora eles estivessem vendo a torre e vislumbrassem Davino, sacristão tangendo bronzes de sinos fúnebres. Tudo isso sem nenhum grito de dor levado pelo vento que corria manso.
Amadeu quer levantar-se, beber água, mas antes de atravessar o quarto se recorda da única violência daquela tarde: estraçalhara, sem aperceber-se, reduzira a frangalhos o porta-seios de chita de Catarina.
E a lembrança do primeiro sábado de fevereiro aviva-lhe carrancas de testemunhas que cravaram fisionomias contrafeitas nos tijolos à maneira de quem estivesse escutando decepcionante testamento.
Ninguém enfatiotado na cerimônia apressada, um leque, sequer, nas mãos da madrinha elegante. Sem o fraque, como poderia o juiz lembrar um gafanhoto? Cochichos. Resmungos.
A sala sem cheiro de rosas, nada que lembrasse bodas nas janelas despidas. Bem diferente da cerimônia da igreja, onde havia cravos embranquecendo o altar, e sinos, todos os sinos repicando depois de um amplo sinal-da-cruz de Padre Bulhões lhes retalhar as cabeças.
E como se esquecer do tapete onde seus pés se detiveram antes dos joelhos se dobrarem nas almofadas; como se esquecer da fala de Padre Bulhões, logo a dele, nunca escutada quando os outros se casavam!
Antes, Padre Bulhões exigindo que flores de laranjeira não rebentassem perfume entre as mãos da noiva enrubescida. Que Catarina se casasse como uma amasiada que depois se torna esposa na presença do Cristo. Nada de simulacro, nada de mentiras sob o olhar morto do Cristo Crucificado. Catarina se casasse de vestido comum, exibindo qualquer cor exceto a das virgens que procuram a casa de Deus vestidas de branco, calçadas de branco, coroadas com grinaldas de Jasmim. Sim, era o seu castigo, Padre Bulhões punia assim os precipitados, com essa singular exigência ele impunha penitência, constrangia.
Com a boca esturricada e sentindo uma sede desconhecida, Amadeu avança, chega à cozinha ainda se lembrando da voz de Padre Bulhões vibrando no sermão de advertência, dando graças à Santíssima Virgem por não ter Catarina ido parar na Rua do Fogo, ter Catarina pecado e insistido no pecado somente com ele, Amadeu.
Os curiosos estarrecidos, surpresa para Amadeu que jurava não ser Padre Bulhões, seu pai-de-criação tão implacável e numa ocasião como aquela abrir a boca para malhar Catarina, logo ele que não gostava de subir as escadas do púlpito nem para saudar o Bispo. Amadeu ainda quer beber água mas esquece o copo cheio no mármore das moringas e retorna ao quarto sem sentir a febre dos lábios esturricando-lhe a boca, onde dentes amarelos se enfileiram desordenados.
Catarina continua dormindo no quarto iluminado por luz forte. Uma Catarina desacordada que não escuta os chinelões arrastados por Amadeu nem se sobressalta quando o velho tropeça num tijolo frouxo. Ela dorme, sem rito sua face ressona, sem amargura nas feições engelhadas Catarina repousa e desconhece que Amadeu está de pé se revendo na fotografia sem pose, instantâneo depois ampliado por um curioso.
Ah! se Catarina soubesse por onde anda o pensamento de Amadeu! Ah! se ela duvidasse, porventura, que Amadeu insiste em se lembrar como inexpressiva fora a sua primeira noite de casamento! Mas Catarina não pode saber nada. Seus cabelos continuam incendiando o travesseiro de lã-de-barriguda e somente o seu nariz dá sinal de vida quando se dilata numa respiração ofegante. Catarina a tudo ignora. Talvez esteja sonhando, talvez durma num profundo sono vazio.
E Amadeu insiste em querer se lembrar da primeira noite de casamento; noite sem segredos, noite em que nada fizeram, porque tanto ele quanto Catarina já se viam, se encontravam com indiferença, como se se conhecessem de sobra, e um olhasse o outro sem enlevo, chateados se interrogassem, ambos sem sentir aquele antigo desejo, indomável desejo que os unia em descampados como animais. Noite em que ambos maldisseram do casamento, esconjuraram-no. Noite de desilusão, porque mesmo antes da madrugada, tanto Amadeu quanto Catarina já se sentiam enfadado, pressentindo que a vida em comum os separaria.
E antes do relógio badalar na madrugada, eles não tinham mais dúvidas, sem se tocarem já eram inimigos, sem se falarem já se odiavam. E um choro arrebentou a mudez de Catarina, até então no meio do colchão, sentada sem prumo, de borco; não se falaram, nenhum deles disse, sequer, coisa alguma, mas embora emudecidos, tivessem eles certeza absoluta de que haviam errado, perdidamente errado quando consentiram casar-se.
Não havia mais jeito. Brigariam, ela seria espancada depois de dizer desaforos, quebrar pratos, sacudir pires nas paredes caladas. Ele, Amadeu, abominando Padre Bulhões, desejando tudo de ruim ao homem de batina, ao crente que o condenara depois de prendê-lo a uma mulher, que seria sempre sua, sua para toda a vida, sem precisar proclamas, certidão de nascimento, aliança. Mesmo antes do coito, quando as promessas se avolumam e as juras fluem, jamais eles falaram em casamento, ter filhos; queriam, sim, se encontrar todas as tardes, sem ninguém saber se amarem no campo como animais. Livres. Amarem-se à estrebaria abandonada que servia para isso mesmo, quando chovia eles iam para lá e escutavam a chuva depois de se beijarem como doidos e como doidos sentirem no corpo o calor de um suor intenso.
Tinham, ainda, as ribeiras do Camunxinga, a estrada sinuosa do Monumento, e o muro do Cemitério sempre deserto era outro refúgio.
E devido ao padre perderam tudo isso. Nunca mais poderiam sentir o cheiro morno dos sabugos quando se escondiam no silo abandonado, tábuas podres. Nunca mais poderiam se sentir livres, despreocupados se encontrarem ouvindo o marulho do rio. Teriam que suar para viver e suados se odiariam, sentir-se-iam condenados, arrebentados como sapos que houvessem perdido o caminho da lagoa e ficassem esperando a morte longe das águas.
E Amadeu se lembra de que na véspera do casamento as estrelas daquela noite cintilavam implacáveis. Lembra-se também que não pensou em fugir, se o fizesse seria capturado, Padre Bulhões tinha força como gente grande, seria detido e de mãos amarradas voltaria a Santana do Ipanema para recomeçar a vender rendas, botões, jardas de morim, metros de cretone. Vender pasta de dente, pentes, espelhos e carretéis arrumados em prateleiras de uma loja, a dele, aberta e sortida pelo padre punidor.
Loja idealizada pelo padre, benta pelo padre que após esse ato deixou-o sozinho, como perdido, encurralado pelo balcão, à espera do primeiro freguês.
Durante todo o mês de janeiro se habituando ao novo modo de vida, durante todas as noites prestando contas ao padre que o escutava cismarento, depois de ler o caixa diário numa folha de papel garatujada de algarismos.
O padre o experimentava. Dera a Amadeu uma loja que também tinha uma seção de víveres, a loja mista como prova dos nove: seria o seu afilhado comerciante de armazém? ou se sairia melhor negociando artigos importados de Maceió e Recife?
Pretendia Padre Bulhões que o comércio prendesse Amadeu a cidade agreste e nunca mais ele quisesse viajar, viver em São Paulo, ficar rico por lá coisas que Amadeu contou ao ver-se descoberto devido aos vômitos que empalideciam Catarina, tornando-a arredia, birrenta.
— Foi você? — A voz de Padre Bulhões trovejando, voz aos poucos se aveludando, capciosamente se tornando mansa à medida que Amadeu se obstinava em reparar o erro, não podia, não tinha dinheiro e ele, Padre Bulhões, certamente não queria ver Catarina à cozinha no lugar de uma negra.
Catarina não era uma miserável, tinha pai, tinha mãe, mãe que todos os anos ia a Maceió tratar dos dentes. Catarina sempre tivera posição, era de outra classe. Reconhecia o erro, se morresse sem antes se arrepender estaria condenado ao inferno, mas como se casar, tornar-se marido de Catarina se nunca vestira um paletó, sempre andara em mangas de camisa?
Catarina filha de boiadeiro, o pai de Catarina possuindo açougue e dinheiro nos bancos da capital do Estado. Ele, ó!, e mostrou ao padre os remendos que cicatrizavam a sua camisa de madapolão, enquanto dizia já estar preparado para cumprir pena de defloramento. Padre Bulhões o encarando e vendo em sua imaginação caixotes, fardos, toda, uma carga de caminhão enchendo uma calçada, a calçada da loja que seria de Amadeu — todo um carregamento empoeirado à espera do novo comerciante, depois de ser trazido por léguas e léguas de estradas sem asfalto.
A imaginação do Padre se desdobrando, punindo Amadeu, negando a Amadeu o que ele mais desejava, queria.
Não, seu filho-de-criação não iria pra cadeia cumprir pena de defloramento, iria, sim, viajar, mas somente viajar até Chicão, Maravilha, Capim, Poço das Trincheiras, conhecer e rever esses povoados como os outros comerciantes de Santana do Ipanema, que a essas vilas se dirigiam nos dias de suas conhecidas feiras.
E a imaginação de Padre Bulhões começou a ver Amadeu engordando, cinturão estufando-lhe a barriga, jogando gamão, politicando, melhorando sempre, fazendo o que nunca pensou pudesse por ele ser executado, sob os caprichos de sua vontade se esquecendo dos tempos duros de sua existência órfã.
O Amadeu que queria viver conhecendo o mundo depois de ficar rico em São Paulo, esse mesmo Amadeu iria tratar com caixeiros-viajantes, encomendar-lhes dúzias de chapéus, capotes para os invernos, sem data dos sertanejos, reúnas de elástico para os majores e coronéis do município.
Amadeu, levando a vida de um comerciante que não temesse o correio nem o telégrafo, não renovasse letras promissórias, não aceitasse hipoteca nem a hipoteca se sujeitasse.
Padre Bulhões descruzou as pernas quando em lugar da loja a sua imaginação começou a ver uma bodega onde Amadeu falsificava cachaça de litros. verdes, batizando-a com água do pote. De tamancos, barba por fazer, mau hálito apodrecendo-lhe a boca onde cacos de dente restavam para ferir-lhe a língua, assim o padre viu por instantes o rapaz que à sua frente repetia estar pronto para cumprir pena de defloramento.
E Amadeu não se esquece do braço musculoso do Padre Bulhões; daquele punho que desceu sobre o seu pescoço como um martelo Amadeu se lembra de quando em vez escutando ao mesmo tempo aquelas palavras que a voz do padre rasgou como quem estraçalha um pedaço de linho: “não o havia criado para ser coisa-ruim”.
A madrugada se arrasta e Amadeu esfrega o rosto sem conseguir retirar dos olhos a poeira daquela estrada, o saibro daquela única grande viagem que o levou, a ele e a Catarina, até Maceió, visão logo embotada pela paisagem do Rio de Janeiro, metrópole vislumbrada das nuvens, descortinada muito antes do avião aterrissar, logo depois da noite ter-se anunciado e reclames ferirem as barrigas dos morros com letras de gás-neon.
Todo aquele feérico era inconcebível para ele e Catarina, acostumados a ver montanhas desabitadas, habituados a viver em silêncio numa Santana do Ipanema escura e deserta. Sabia que o Rio de Janeiro era grande, mas não imaginava que a grandeza da metrópole fosse estupefaciente.
Abriu a boca e apesar de velho se abismou como uma assustada criança. Impossível se esquecer de que apertou o braço de Catarina e deu os primeiros passos no aeroporto sentindo medo da vastidão inconcebível. Tresvariava sem saber que delírio era aquele. Não admitia que uma metrópole pudesse amedrontá-lo, depois de ensurdecê-lo o barulho pudesse confundi-lo.
Vendo tanta gente estranha, nenhum raciocínio o acudia. Repentinamente havia se esquecido daquelas fotografias de cidade grande das esfarrapadas revistas de barbeiro, embevecimento de sua adolescência miserável.
Jaguaré não os esperava, o filho nascido fora de tempo, quando ele e Catarina não esperavam mais comprar berço (não vingara a primeira gravidez), filho batizado muitos anos depois do casamento ser um hábito asfixiante, esse único filho não surgia da calçada onde táxis se enfileiravam.
Jaguaré, o arqueiro do selecionado do Brasil, Jaguaré, o sertanejo arrancado de Alagoas pelo sorteio militar, o que fora obrigado a tirar certificado de reservista no corpo de Fuzileiros — esse homem de apelido selvagem não transpunha nenhuma das portas, escancaradas portas sem grades nem vidros, portas desvigiadas abertas todo o tempo.
E ele, Amadeu, sem poder transpor nenhuma delas, sem poder fazer o que os outros estavam fazendo, incapacitado de sair daquele enorme saguão borrado nas paredes por cores de tintas berrantes. Como descobrir o hotel aonde iriam ficar? Se ele já se sentia perdido, como poderia locomover-se, arrastar-se nas pernas vacilantes?
E o peito de Amadeu estrebuchou num gemido que lhe desmaiou o rosto depois de corá-lo.
Lavados pelas lágrimas que não rolavam eram seus olhos desencantos. Perto dos sapatos grosseiros a mala de couro cru esperava.
A umidade de julho suporejava-lhe a testa e um suor desconhecido alagava-lhe as mãos grossas, peludas e queimadas.
Depois, um desconhecido perguntando-lhe como era o seu nome, indivíduo que Amadeu jamais viu pedindo-lhe informações, se a viagem havia sido boa, se no avião haviam sido bem tratados.
E Amadeu custou a compreender, não atinava que o rigor de uma concentração de jogadores de futebol fosse como uma prisão. Escutava as desculpas do sujeito calvo com desconfiança.
O emissário da Confederação Brasileira de Desportos mostrando-lhe as credenciais, fazendo mesuras para Catarina, que persistia colada ao marido como se temesse aquele homem bem-falante, gesticulador. A um sinal do paredro uma fotografia foi tirada de perto, já o homem da C.B.D., abraçando Amadeu, chamando-o de você, tratando-o com uma intimidade estonteante.
Amadeu respondendo-lhe com monossílabos, gaguejando procurava palavras de frases que não se completavam. O paredro dirigindo a vida dos velhos, sem esperar por resposta avisando-lhes que depois do jantar iriam ao Maracanã, ainda era cedo, depois de trocarem de roupa poderiam ver Jaguaré, na concentração.
Ele, Canor, estava ali para isso mesmo, levá-los-ia hotel, servindo-lhes de guia lhes mostraria os recantos de turismo do Rio até à véspera do grande jogo.
Melhor teria sido se eles tivessem chegado dias antes, poderiam ver as belezas da capital do país com vagar. Todavia, garantia não terem eles perdido a viagem. Depois da derradeira vitória do selecionado brasileiro, Jaguaré estaria livre e livre ficaria com eles o dia inteiro, a noite toda, o tempo que quisesse.
Desde que Jaguaré se tornou jogador de futebol, foi ser goleiro do Botafogo, viver da pelota, já seu vício nos exercícios de sua corporação, os negócios de Amadeu prosperavam. A Amadeu pediam retrato de Jaguaré, que Jaguaré lhes mandasse autógrafos, escudos do clube, flâmulas do esquadrão Invicto. A loja de pratelelras espanadas, brunidas, as mercadorias se escoando sempre pelo balcão novo, onde nos dias de jogo ficava um rádio sintonizando as defesas incríveis do filho de Amadeu. Herói.
Por isso Amadeu estranhou ter desembarcado do avião sem ninguém gritar-lhe pelo nome, vivar-lhe a presença, segurar-lhe os braços, atitudes contumazes em Santana do Ipanema quando nas tardes de domingo a transmissão reafirmava a potência do Botafogo, exaltava a vitória das camisas pretas e brancas, depois de assinalar a firmeza, o arrojo e a elasticidade do craque Jaguaré. Santana do Ipanema se travestindo num subúrbio do Rio, torcendo pelo Botafogo a cidade delirava, o município inteiro ciente das intervenções do astuto Jaguaré, defendendo o gol com destreza de fera. E Amadeu estranhou mais uma vez quando no hotel exigiram-lhe documentos, deram-lhe uma ficha para ser preenchida com tinta de caneta automática.
Não estava habituado a isso, abespinhava-se com essas coisas, se amuava com ninharias. Havia tempo Jaguaré amaciava-lhe a velhice, os sucessos do filho revigoravam a saúde de Amadeu, dilatavam a vida do velho, que depois de um pôquer, quando o baralho lhe corou a face com uma quarta dama de ouro, ficou arrastando uma perna e sentindo no braço esquerdo um peso de saco de areia.
Se Padre Bulhões não fosse musgo de uma sepultura rasa Amadeu teria recebido os santos óleos, a pulso teria o padre rabugento lhe ministrado a extrema-unção.
Amadeu não acreditava mais em nada. Também Jaguaré ainda não havia sido descoberto, ainda não era o craque que o país inteiro aplaudia. Naquela época o filho de Amadeu defendia pênaltis no campo do Arsenal de Marinha e como amador vestia a camisa de um quadro de juvenis. E se não fosse um olheiro do Botafogo, um desses homens que descobrem nas peladas suburbanas jogadores com estigma de futuro campeão, Jaguaré teria regressado a Alagoas numa terceira classe de navio costeiro; teria revertido a Santana do Ipanema como um crioulo miserável e seria, na certa, negociante mal de vida, morreria sem deixar nada, pobre como o pai. Depois de cumprir o serviço militar, se não fosse o futebol, Jaguaré teria voltado para o sertão de Alagoas, onde nada de bom o esperava. Um balcão velho e sebento seria o seu único horizonte.
Raciocina aos pedaços, sem finalizar o que sua memória tenta reconstituir, Amadeu começa a limpar da testa o suor que lhe escorre rosto abaixo. Na madrugada morna Amadeu sua. Convence-se que suportaria viver se tivesse apenas escutado a derrota do Brasil, ouvido apenas a transmissão do jogo, daquele jogo sem vitória para o Jaguaré vaiado.
Por que fora ao Rio? Por que se largara mundo afora, não ficara detrás do balcão, não escutara de longe aquele terrível silêncio pelo rádio, silêncio pior que um linchamento?
E Amadeu repele um soluço que lhe entala a garganta. Se não tivesse presenciado aquele jogo e visto aquele segundo gol dos estrangeiros, se não tivesse adoecido juntamente com todo o estádio depois de um inesperado gol dos uruguaios, gol fácil para o destro Jaguaré, ele, Amadeu, não estaria sentindo vontade de morrer e morto ficar bolando nas águas escuras rio abaixo. Inchado. Irreconhecível.
Várias vezes o clube de Jaguaré perdera, saindo derrotado do campo o Botafogo. Sabia Amadeu até o total desses reveses… Mas eram derrotas decentes, coisas do futebol, não uma desgraça daquela que enlutou o Maracanã, imprevisível sortilégio.
E ele das cadeiras numeradas, ele que nunca havia saído antes do Estado de Alagoas, admirando toda aquela infelicidade que fez calar torcedores fanáticos e transformou homens em aniquilados espetros. E como aterrador fora aquele silêncio! Silêncio de duzentas mil pessoas respirado a custo; o futebol do Brasil derrotado e o povo deixando o estádio como cadáveres que deixassem o maior necrotério do mundo e pudessem andar.
Na manhã seguinte os jornais malsinando pela primeira vez o nome de Jaguaré: goleiro inexperiente, “keeper” displicente, jogador sem senso de responsabilidade, fora de forma, nervoso. O diabo.
Ele e Catarina com vergonha de voltar ao hotel depois daquele chute que Jaguaré não viu.
As escondidas ele e Catarina como criminosos deixando do Rio, fugindo da metrópole derrotada, lembrando-se do maior estádio do mundo como uma praga.
Amadeu sem querer abraçar Jaguaré antes de subir os degraus da escada do avião, hélices paradas qual um pássaro sem rumo. Amadeu sem querer passar-se por pai, ser pai daquele jogador que preferiu fazer golpe de vista a deter um pelotaço quase rasteiro, desferido do lado direito da grama.
Sem querer ser nada, nada, sequer um peito frio de desconhecido morto. Como um renegado se sentindo o velho de orelhas murchas. Ele que queria escutar a balbúrdia da vitória, ouvir ecos de música nas ruas apinhadas, ele que já sentia no pescoço fitas de serpentina colorindo seu jaquetão de botões escuros, ele que já se via tirando do bolso um pente para retirar dos cabelos confetes vermelhos, amarelos, azuis mal podia olhar o asfalto deserto, de tanta vergonha temia os mais sutis sussurros.
E trancou-se no quarto para salgar as rugas de seu rosto com a pujança de um pranto incontido. Catarina também chorava. De costas eles soluçavam, com vergonha que um pudesse ver as lágrimas do outro, de cabeça baixa, derreados em poltronas opostas, eram eles olhos ardentes. Vergonha de se fitarem. Vergonha de serem pai e mãe do Jaguaré desatento, confiado demais. Durante todo o regresso como inimigos. Amadeu respondendo a Catarina com má vontade, sem dar atenção às imprecisas indagações de Catarina, lenço no nariz enrubescido e lacrimoso. Amadeu brutíssimo.
Um automóvel correndo dentro de uma noite de Maceió, trazendo-os de volta a Santana do Ipanema num esmo de madrugada fria. Amadeu recomendando ao chofer, aos berros, dedo em riste, que queria atravessar a cidade, entrar em casa sem ver ninguém… Mais derrotado que o Jaguaré vazado.
E agora Amadeu não precisa mais de relógio algum. Pouco importa que o carrilhão da torre da igreja esteja badalando a quarta hora de um dia novo. Pouco importa que os primeiros galos cantem nesse sucumbido fim de noite.
Precisamente há uma hora ele chegou e como se tivesse se esquecido de tudo Catarina dorme e espichada no colchão inunda o travesseiro com seus cabelos outrora rubros.
Amadeu continua fumando, para matar o tempo traga, demais cigarro barato e sentindo novamente sede vai mais uma vez até à cozinha, vai pra lá arrastando os pés com barulho.
Decidira matar-se, ainda na última noite de hotel do Rio de Janeiro pensou nisso, mas Amadeu não quer o rio temporário sabendo Catarina, apenas, modorra.
Amadeu queria Catarina submersa por um sono intangível e por isso deixou todo o tempo a luz acesa, o quarto iluminado madrugada afora enquanto pensava, sempre pensando e esperando o momento oportuno para descer as escadas do quintal empenumbrado.
Lá embaixo, pra lá dos lajedos o rio roncando numa cheia de julho.
E agora Amadeu caminha, continua caminhando sempre em direção aos redemoinhos e sem pressa vislumbra o sorvedouro.
E ninguém viu Amadeu, ninguém poderia vê-lo se arrastando nas sombras, porque de borrões de mortalha são as cores desta madrugada sem lua.
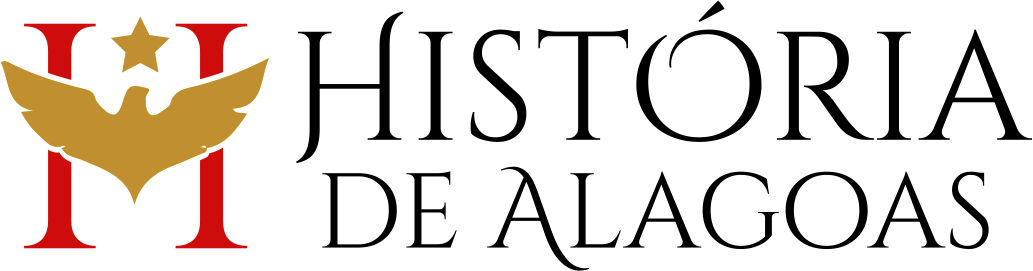







Adoro, este site, pois meu pai sempre ele me falava de diversos personagens que hoje tomo conhecimento através da História de Alagoas. O nome dele era Augusto Francisco de Barros, nasceu em Rio Largo.
Caro Ticianeli, muito grato pelo encaminhamento desta reportagem, que li na íntegra, mas que me deixou muito entristecido pelos relatos.
Fraternal abraço,
Claudio Ribeiro