Sociologia do Carnaval
 Carnaval de 1941 no Rio de Janeiro em um bonde para Cascadura
Carnaval de 1941 no Rio de Janeiro em um bonde para Cascadura

Cena de Carnaval no Rio de Janeiro de Debret
Abelardo Duarte*
Jean Baptiste Debret, artista francês (um dos contratados por D. João VI) e autor Voyage pittorresque e historique au Brésil, cuja celebridade decorre, como se sabe, mais do aspecto documental de suas pranchas ou desenhos que literário propriamente dito, esboçou nesse livro, ontem uma raridade e hoje traduzido por Sérgio Milliet, uma curiosa Cena de Carnaval. Esta seguida, como todas as demais pranchas, de uma explicação minuciosa, ficou com a imagem real do “entrudo” das primeiras décadas de 1800, no Rio de Janeiro e nas províncias.
O carnaval dessa época longínqua, inclusive na Corte, reduzia-se ao uso de água e polvilho. Água em demasia, daí o nome do folguedo carnavalesco, molhando como um pinto os que se arriscavam à rua nos três dias do Entrudo ou, então, o polvilho à larga — a farinha de trigo ou mesmo a goma — lambuzando o rosto e empoando os cabelos dos passantes e, com isso, dando-lhes um aspecto caricato. Era a cópia fiel e alegre do celebérrimo “entrudo” português, costume que nos trouxe o colonizador branco.
O lápis de Debret fixou nessa Cena de Carnaval uma negra despenseira sendo atacada na rua por um negro encartolado a esfregar-lhe no rosto uma camada de goma e ele, por sua vez, sendo ensopado por um companheiro, munido de longa seringa de lata.
Tal foi o “entrudo”. Não somente Debret, mas alguns viajantes estrangeiros, como Koster, Kidder e Flectcher e outros, deixaram em páginas memoráveis flagrantes do Carnaval brasileiro de outrora. Carnaval no qual se identificavam e se misturavam, no delírio pagão, brancos e negros. Este um detalhe interessante, consideradas as condições da vida e costume que distanciavam brancos e negros.
O negro amoldou-se facilmente ao Carnaval e na promiscuidade do folguedo encontrou uma larga saída para os seus recalques. Eis um tema para algumas conclusões sociológicas. Porém, não foi apenas uma espécie de catarse, de purgação, que o Carnaval provocou no caso do negro. Todo o recalcamento vinha à tona nesses três dias, extravasando-se em contatos, diversos, em intimidades forçadas, antes absolutamente impossíveis, num nivelamento igualmente muito difícil, mas explicável e até mesmo admissível, afinal.

Carnaval de Rua no início do século XX no Rio de Janeiro. Foto da Biblioteca Nacional, acervo de Arthur Ramos
Posteriormente, com a implantação do Carnaval nos costumes brasileiros, o negro passou a aproveitar de outra forma as regalias do tríduo momesco. Foi o caso dos clubes carnavalescos negros ou organizados por negros e seus descendentes — as Embaixadas ou que outros nomes tinham os ranchos, cordões e até préstitos carnavalescos. Passou o negro a aproveitar com sagacidade os motivos africanos e estes, em verdade, predominavam nos festejos do Carnaval, sobrepujando os demais e até despertando mesmo maior interesse.
Começando com seus Cucumbis (Cucumbys), de que Melo Morais Filho apresentou uma descrição na obra Festas e Tradições Populares do Brasil, ranchos formados, a princípio, apenas pelos escravos negros e cujas cantigas eram expressadas na linguagem usual deles; Cucunbis que foram as formas primitivas e bárbaras de outros folguedos que vieram a surgir depois, no trabalho sincrético das gerações crioulas, os negros prosseguiram nesses privilégios ou concessões. Inteligentemente abriram uma larga brecha nos preconceitos sociais do tempo, senão nas limitações e restrições de sua própria condição social. E dos velhos Cucumbis com os seus adultos e agogôs africanos originais passaram aos Cucumbis Carnavalescos, de diversos nomes, sociedades “mais lustrosas pelo trajar, o pessoal e a música ensaiados com esmero”, como escreveu Melo Morais Filho. E foram em progresso, avançando sempre nessas condescendências. Através dos três dias de folia, insinuaram-se os negros nos divertimentos dos brancos, ombrearam-se com eles nas mesmas partidas de rua e, afinal, tiraram proveito dessa situação que se tornaria, a seguir, numa anuência espontânea, definitiva.
Conta Nina Rodrigues que na Bahia os negros, por ocasião do Carnaval, sobretudo “os mais inteligentes ou melhor adaptados”, buscavam os personagens e os motivos de suas folganças nos costumes e tradições dos povos africanos mais adiantados. Préstitos com a exibição de alegorias eram então organizados. Os Pândegos da África tornaram-se célebres nesse particular. E o acompanhamento, tal como ocorre hoje com nossos cordões e clubes carnavalescos, dava a impressão, na apreciação de Nina Rodrigues, de candomblé colossal a perambular pelas ruas da cidade.

Carnaval em fotografia de Pierre Verger, acervo Instituto Moreira Sales
Os excessos do entrudo chegaram ao auge, porém na Corte, levando as autoridades à proibição completa, como se deu em 1854, quando um novo chefe de polícia intolerante aboliu totalmente o “violento entrudo, seus combates e duchas”, conforme referem Kinder e Flectcher no livro O Brasil e os Brasileiros.
Não se perdeu, todavia, o gosto pelo Carnaval e, se o entrudo, isto é, a molhadura à portuguesa legítima ou o polvilhamento da mesma maneira lusitana cento por cento, sofre uma atenuação no uso e costume, os ranchos e cordões foram aumentando, à medida que assentiam as autoridades e se afrouxaram os laços d uma rígida separação de classes. Também, por outro lado, em comunidades afro-negras, onde se exerceu sobre os Xangôs, como no Recife e Maceió, a perseguição policial tenaz, persistente, houve aquela transformação singular, a que alude Roger Bastide, “uma metamorfose das antigas danças cristianizadas em divertimentos de Carnaval”. Essas danças cristianizadas metamorfosearam-se em Maracatus no Carnaval. Maracatus que eram verdadeiras e imensas procissões coreográficas, com mais de cem figuras e não os Maracatus sofisticados, improvisados ou falsos, que surgem às vezes, por brincadeira, nos dias de Carnaval, com homens vestidos de mulher.
No Carnaval antigo de Maceió, não faltavam o Maracatu autêntico, saindo no domingo “gordo” com seu ruidoso cortejo de rei, rainha, príncipes, vassalos e outros personagens, os primeiros debaixo do sobrecéu de variadas cores. Maracatu verdadeiro, com suas “baianas” negras ou crioulas, seus instrumentos típicos, entre outros, ganzás, gonguês e bombos: constituindo sociedades afro-negras ou “nações”.
O elemento afro-negro continuou presente ao Carnaval brasileiro. Cada vez mais à vista.

Frevo nas ruas de Recife
Arthur Ramos estudou psicanaliticamente o fenômeno coletivo da Praça Onze de Junho no Rio, no Carnaval — “conglomerado de todo um inconsciente ancestral”. Catarse (catarsis) coletivas, como chamou. Porém, esse fenômeno não deve ter apenas uma interpretação psicanalítica, mas, do mesmo modo, uma análise sociológica. Se há, em verdade, a purificação dos complexos, há também o efeito moral do nivelamento social e racial.
E o afro-negro e seus descendentes realizam, nesses dias, esse trabalho coletivo da inter mistura racial ou étnica.
O “frevo” seguido de outras modalidades de socialização do Carnaval do Nordeste e as concentrações cariocas das escolas de samba, clubes, blocos e quejandos; os ternos e ranchos da Bahia; os clubes maranhenses, todos afinal, onde predomina o elemento de cor, estabelecem os vínculos da confraternização social e racial.
O que vemos, atualmente, é uma repetição do passado, em maiores proporções e em circunstâncias diferentes, socialmente falando. Não há barreiras sociais no Carnaval de rua, onde se misturam e se nivelam todas as classes. Donald Pierson, que levou a efeito um estudo de contato racial na Bahia (Brancos e Pretos na Bahia) ouviu, porém, de um baiano que sendo o Carnaval uma festa “dirigida” pelas classes cultas, preferem os negros “realizar-se” totalmente nas festas afro-baianas do Sábado e da Segunda-feira do Bonfim. Compreende-se muito bem isso, em termos de sociologia.
Em Folkways, mostra William Graham Summer que “o que agrada ao gosto popular e inculto é o realístico, o vivido, não o convencional, o regulamentado e requintado de acordo com as regras e os padrões”.
No Carnaval, os convencionalismos desaparecem, de certo modo. E por mais dirigido, regulamentado e policiado que o seja, o Carnaval mostra-se uma festa em que as convenções cedem ao peso do realístico. Nesses três dias, a humanidade aparece tal qual é na realidade. Surge sem complexos ou com eles a mostra, nessa catarse ou purgação coletiva de que falou Arthur Ramos, no caso da Praça Onze, e que no caso brasileiro é uma catarse total. Há uma sociologia do Carnaval, não resta dúvida. Que o digam os mestres. Pelo menos do Carnaval brasileiro, com suas variantes regionais, com os aspectos particulares que oferece, no qual os preconceitos de toda a espécie se anulam no ombro a ombro da multidão desvairada, ao compasso ou descompasso do frevo, nos saracoteios incríveis da coreografia da época.
*Publicado originalmente no Diário do Paraná de 8 de abril de 1956.
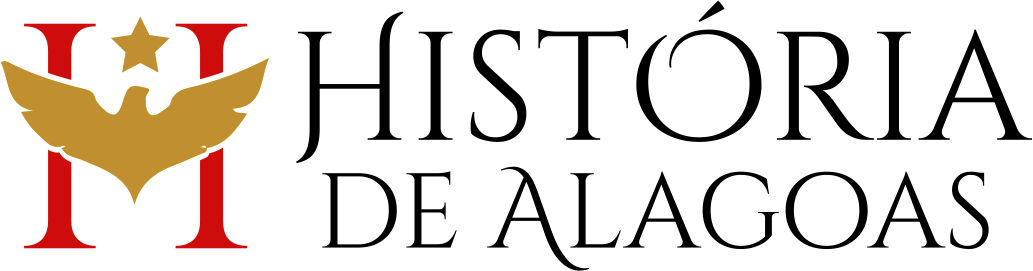

Deixe um comentário